A história da música clássica é inseparável da ascensão do capitalismo. O novo sistema possibilitou uma revolução musical, mas o seu desenvolvimento marcado por crises criou uma barreira entre os músicos e o seu público, deixando para trás uma tradição congelada. Por Simon Behrman.

No último século, a música clássica tem-se distanciado cada vez mais do público de massas ou das formas musicais populares, a ponto de se tornar o culto elitista das pessoas que vivem isoladas em uma torre de marfim. Isto não é culpa dos músicos: a sua arte é inseparável de tendências sociais e políticas mais amplas. O capitalismo, que primeiro criou um espaço onde a música podia florescer, rapidamente o destruiu e nos deixou com uma tradição morta e formalizada.
O que é a música clássica?
Quando queremos discutir o futuro da música clássica, um dos problemas que surgem é identificar o significado do termo clássica: o que a distingue do jazz, rock, hip-hop ou qualquer outro género?
Não é que se trate de música unicamente séria. Uma boa parte da “música clássica” é cómica e até mesmo disparatada. É o caso de Uma Piada Musical (1787), de Wolfgang Amadeus Mozart, e das Aventuras de György Ligeti (1962 – 1963), de György Ligeti. Na mesma medida, há muitas composições extremamente sérias que pertencem a outros géneros. Estou a pensar em muitas canções dos Beatles, que não ficam atrás do trabalho de Franz Schubert na sua intensidade e complexidade emocional e estilística.
Não há uma forma ou estilo único que se possa associar à música clássica mesmo num único período, e muito menos ao longo de vários séculos. Quando se ouve duas obras para piano, mesmo que sejam composições separadas por poucos anos – por exemplo, Klavierstücke I-XI de Karlheinz Stockhausen (1952 – 1956) e Preludes and Fugues de Dmitri Shostakovich (1950 – 1951) – é difícil discernir o que têm em comum estilisticamente. E, ainda assim, partilham a letra “S” na maior parte das lojas de música clássica.
Em vez de falar de “música clássica”, talvez fosse melhor falar de uma tradição musical europeia. Mais precisamente, embora de forma menos elegante, deve-se dizer que é uma tradição burguesa europeia/ocidental. Uma vez definido o conceito nestes termos, é muito mais fácil perceber o que todos os compositores que mencionei têm em comum.
Também é mais fácil entender a ascensão e declínio deste género musical. Em todo o caso, como “música clássica” ainda é uma expressão bem conhecida, vou usá-la de forma intercambiável com a expressão “música europeia”.
O nascimento da música europeia
A ascensão das classes médias e a expansão do tempo de lazer que têm disponível – além, é claro, do das classes altas – condicionou o surgimento da música clássica. Durante boa parte do período medieval, a música era reservada para cerimónias religiosas, festivais ou a visita ocasional de trovadores.
O nascimento da ópera na Veneza do século XVII foi principalmente um empreendimento comercial numa cidade de comércio rico. Embora fosse contratado por igrejas, Johann Sebastian Bach tinha o estatuto de artesão e aceitava frequentemente comissões privadas para compor obras. No final do século XVIII e ao longo do século XIX, muitos teatros e salas de concertos foram construídos, e muitas orquestras se estabeleceram com o apoio de vários empreendimentos comerciais.
Por exemplo, a primeira grande sala de concertos em Londres foi a Hanover Square Rooms, construída pelo empresário italiano Sir John Gallini, e dirigida em conjunto pelos compositores Johann Christian Bach (filho de Johann Sebastian) e Carl Friedrich Abel. De facto, muitas das orquestras que ainda existem, como a Gewandhaus de Leipzig, a Filarmónica de Berlim, a Filarmónica de Viena, a Filarmónica de Nova Iorque e a Sinfónica de Boston, devem a sua fundação à iniciativa de músicos com apoio de capital privado e sustentavam-se através da venda de bilhetes.
Por volta da mesma altura, surgiu o fenómeno do artista celebridade. O violinista Niccolò Pganini, o pianista Franz Liszt e a cantora Jenny Lind alcançaram fama e fortuna fazendo digressões pelo mundo inteiro e dando concertos que foram promovidos por um grande número de campanhas publicitárias.
A forma e o estilo musical também corresponderam às transformações sociais provocadas pelo nascimento do capitalismo. Podemos ouvir o estilo musical “Sturm und Drang”, associado ao período das Revoluções Francesa e Americana, manifestar-se na tensão dramática crescente da música dos filhos de Bach e Joseph Haydn. Foi Ludwig van Beethoven, cuja vida adulta foi marcada pelo turbilhão da Revolução Francesa e suas consequências, que levou o estilo à expressão mais completa.
Quando a revolução deu lugar à reação, os compositores abandonaram o estilo épico e adotaram um estilo muito mais introspetivo e pessoal, chamado de “romantismo” e audível nas obras de Robert Schumann e Frédéric Chopin. As revoluções de 1848 inspiraram os grandiosos dramas musicais de Richard Wagner. Com Tristão e Isolda, ele abriu a porta para o cromatismo e harmonias instáveis que culminariam no atonalismo do século XX.
Além de ser uma obra musicalmente revolucionária, O Anel do Nibelungo de Wagner conta uma história de transformação social, traição e ganância, muito influenciada pelas suas experiências de 1848 como participante ativo na revolução de Dresden e pelo exílio que a que derrota amarga o forçou. Da mesma forma, Giuseppe Verdi expressou a turbulência em torno do Risorgimento italiano.
Toda a música romântica tardia de Richard Strauss, Anton Bruckner e Giacomo Puccini foi montada numa escala enorme, simbolizando a suprema confiança numa Europa globalmente dominante, passando por um rápido processo de industrialização. Os concertos começaram a assumir proporções grandiosas: na estreia da Sinfonia n.º 8 de Gustav Mahler, quase mil músicos tocaram, e havia mais de três mil pessoas na plateia.
Colapso
Social e musicalmente, algo tinha de ceder. O rápido desenvolvimento das potências europeias e a sua competição imperialista levaram às duas guerras mundiais e às crises e revoluções que as separaram. As estruturas musicais cada vez mais longas e complexas também começaram a desmoronar devido às suas contradições internas.
À medida que os centros tonais se tornaram cada vez mais esticados e menos facilmente reconhecíveis, a unidade começou a desintegrar-se. Formas clássicas, como a estrutura tripartida da sonata allegro, que tinha sido a âncora da música por mais de 150 anos, estavam estafadas e muitas vezes mal discerníveis nas composições, se é que os compositores sequer as utilizavam.
Pode-se tentar ignorar isto e concentrar-se ao invés num ritmo de harmonias grandiosas e exuberantes que ainda remedeiam. É a abordagem que caracteriza a música de Edward Elgar e Erich Korngold. Mas embora em muitos casos estas obras fossem bastante boas, não levavam a nada em termos do desenvolvimento da tradição musical ou de resposta a novos sons e mudanças sociais. De facto, a música desses compositores é definida por um anseio das certezas da Europa pré-guerra.
No entanto, houve outros que aceitaram os desafios da época. Já em alguns dos últimos trabalhos de Mahler é possível ouvir a antecipação de um mundo pós-tonal e pós-clássico. Por exemplo, o primeiro movimento da sua última sinfonia, a Nona, tem muito mais elementos em comum com o modernismo do século XX do que com o romantismo do século XIX. A geração mais jovem inspirada por Mahler conduziu a música europeia numa direção que a moldaria para os próximos cem anos.
Em Pierrot lunar (1912), Arnold Schönberg abandonou completamente o tonalismo. Neste trabalho ele também desenvolveu o “Sprechstimme”, uma forma de cantar muito mais próxima do discurso natural e, consequentemente, exibindo um estilo mais simples do que o canto tradicional. Este trabalho, que influenciou toda a música europeia posterior, expressa um certo deslocamento, um estado de grande ansiedade e um sentimento de desorientação, refletindo assim perfeitamente as crises sociais do seu tempo.
A música na era das catástrofes
A ascensão do fascismo e do estalinismo representaram mais golpes na música europeia. Estes regimes suprimiram o novo estilo atonal cujo pioneiro tinha sido Schönberg, e promoveram em seu lugar um retorno kitsch ao grande romantismo. Na minha opinião, foi durante este período que a música europeia enquanto tradição viva foi morta. Não foi uma morte súbita mas um veneno que foi injetado na relação desta música com a sociedade e que foi amplamente responsável pela sua marginalização atual.
Enquanto permaneceu ancorada na sociedade burguesa europeia, foi continuamente renovada e desenvolvida através da sua relação com formas mais mundanas: primeiro a música e danças folclóricas, depois os espirituais afro-americanos, o jazz, a sonoridade da música japonesa, as músicas pop de Tin Pan Alley e a percussão africana e muito mais. Talvez não tenha havido uma década mais excitante na música do que a dos anos 1920, quando todas estas influências podiam ser ouvidas nas obras de compositores como Igor Stravinsky, Béla Bartók, George Gershwin e Maurice Ravel, entre outros.
Mas o nazismo proibiu a “música degenerada” e as trombetas do “realismo socialista” na URSS de Estaline abafaram estes desenvolvimentos, dispersando muitos dos seus protagonistas dos anos 1920 num exílio real ou forçando-os a um exílio simbólico no qual tinham que reprimir os seus instintos artísticos. Tomemos o exemplo do compositor alemão Paul Hindemith, que compôs algumas das obras mais idiossincráticas e extraordinárias dos anos 20, nas quais se pode ouvir a influência do jazz, um certo atonalismo e até mesmo música eletrónica. Embora ele tentasse resistir ao nazismo com obras como sua ópera a Mathis der Maler (1934), as suas composições foram rapidamente censuradas. Foi ao exílio nos Estados Unidos, onde a sua música perdeu o seu dinamismo e retirou-se para um formalismo académico aborrecido.
Quando chega 1945, muitos dos compositores mais importantes do período anterior estavam mortos (Bartók, Gershwin, Alban Berg, Anton Webern), enfrentavam o exílio solitário (Stravinsky, Schönberg) ou a trabalhar sob condições repressivas (Shostakovich, Sergei Prokofiev). Uma geração mais jovem de pessoas com os seus vinte e poucos anos estava a emergir cujas vidas tinham sido duramente marcadas pelo fascismo e pela guerra. Os nazis tinham assassinado a mãe de Stockhausen como parte do seu programa de eutanásia, enquanto o seu pai, um nazi entusiástico, tinha morrido a lutar na Frente Leste. O pai de Hans Werner Henze era também um nazi que morreu em combate, e o próprio Henze tinha sido recrutado para o exército alemão e terminado a guerra num campo de prisioneiros de guerra.
Aqueles que vinham de outros países também passaram por momentos difíceis durante esses anos terríveis. Luciano Berio teve que servir no exército italiano: uma ferida de guerra na sua mão pôs um fim nas suas esperanças de ter uma carreira de pianista. Ligeti, um judeu húngaro, perdeu quase toda a sua família em Auschwitz. Iannis Xenakis perdeu metade do seu rosto após ter sido baleado por um tanque britânico enquanto lutava ao lado de guerrilheiros comunistas gregos depois da libertação de Atenas.
A música composta por tais figuras nos anos 50 e 60 foi fortemente experimental, explorando muitas vezes novas tecnologias como a gravação e edição de cassetes e as possibilidades acrescidas de manipulação de sons eletrónicos. E eles também rejeitaram, às vezes quase fanaticamente, qualquer indício de forma ou tonalidade clássica. Em grande parte isto foi uma reação contra a instrumentalização da música clássica e romântica como arma cultural pelo fascismo.
Stockhausen disse certa vez que tinha um ódio da música no tempo 4/4 porque ela evocava memórias da música de marcha interminável tocada nas rádios durante a guerra. Pierre Boulez escreveu que todas as formas de sentimentalismo tinham que ser banidas da música. Isto ia ao encontro do argumento do filósofo Theodor Adorno de que a grande tradição musical tinha trazido uma espécie de brilhantismo cultural ao fascismo.
Perdendo o contacto
Dadas as suas experiências formativas de vida e os obstáculos enfrentados pela música europeia tal como a encontraram em 1945, não é surpreendente que grande parte do trabalho destes compositores tenha acabado por ser muito adstringente. Era chocante para o ouvido e para a sensibilidade e uma experiência alienante e desagradável para muitos ouvintes.
Alguns compositores, como Henze, recuaram e tentaram recuperar algo do tonalismo e formas clássicas. Outros acreditavam que o objetivo era precisamente chocar e perturbar o público. Eles acreditavam que era uma forma de imunizar tanto a sua arte quanto os ouvintes contra a sedução de qualquer sentimentalismo que pudesse ser apropriado para fins políticos autoritários, ou, no contexto do pós-guerra, pela imparável mercantilização da cultura.
Contudo, esta posição arriscava deslizar facilmente para o elitismo, resumido por Milton Babbit num artigo de 1958 no High Fidelity, “O que importa se alguém ouve?” O título pretendia ser um pouco cómico, mas o ensaio de Babbit avançava um argumento sério: a única maneira de um músico manter sua integridade artística face à cultura populista é retirar-se do mundo comercial e garantir que suas obras tenham “pouco ou nenhum valor de mercado”.
Durante as décadas seguintes, foram o jazz e a música popular a assumir o desafio da experimentação sem abandonar a perspetiva de conquistar um público de massa. Em contraste, a música clássica foi reduzida a uma de duas coisas: ou um museu do passado onde músicos com trajes vitorianos tocam em salões luxuosos, favorecendo a ideologia da alta cultura e do bom gosto dos ouvintes, ou então um modernismo resolutamente sério que desafia o público a viver à altura da sua alta intelectualidade.
Em ambos os casos, a tradição da música europeia estava a abandonar em grande medida qualquer desejo ou esperança de conquistar uma renovada relevância popular para uma audiência de massas. Em vez de uma arte viva, estava a tornar-se um significante cultural e social de refinamento e de elitismo.
E quando houve tentativas de se dirigir a um público mais amplo, assumiram frequentemente as formas mais triviais e comerciais. Exemplos deste fenómeno incluem aqueles tenores inflados pela publicidade que cobram salários excessivos por cantar antigos sucessos de ópera italiana usando microfones em estádios gigantescos ou o assustador marketing de jovens violinistas com imagens sexualizadas nas suas capas de álbum.
Fora do tempo
Também para o público, num mundo de capitalismo tardio com os seus cultos de estilos de vida hiper-comercializados, junto com a diminuição do tempo de lazer, quando muitos de nós trabalhamos mais duramente e mais tempo por menos dinheiro, o tipo de espaço psicológico necessário para desfrutar da música clássica também está a diminuir consideravelmente. Uma das características que muitas vezes distingue a música clássica de outros géneros é a extensão das suas composições. Em comparação com a música medieval, mas também com a música popular moderna, as obras clássicas são significativamente mais longas.
A Sinfonia nº 2 de Aaron Copland (1993), apelidada de “Sinfonia Curta”, dura quinze minutos (ou seja, mais do que quase todas as canções pop e a maioria das composições de jazz). Uma sonata clássica, quarteto ou sinfonia típica dura cerca de trinta minutos, até mais. No limite máximo, uma apresentação da Sinfonia nº 3 (1896) de Mahler dura quase cento e dez minutos, enquanto o Quarteto de Cordas n.º 2 (1983) requer quase seis horas de escuta.
Além do comprimento, esta música requer um alto nível de concentração e compromisso que muitos de nós não podemos permitir. À medida que o ritmo da vida social acelera, o tempo livre reduz-se. É cada vez mais comum as pessoas usarem o pouco tempo livre que lhes resta para descansar, relaxar e recuperar, ao invés de se envolverem num exercício de intensa concentração. A música pop de cinco minutos é muito mais digerível do que uma peça de música abstrata de uma hora.
De facto, como alguém que escuta regularmente música clássica enquanto viaja nos transportes públicos – geralmente o único momento livre que encontro num dia de trabalho – tenho que dizer que muitas vezes fico frustrado por não ter tempo suficiente para ouvir um trabalho completo. Acabo escolhendo obras mais curtas ou partes individuais de um trabalho maior.
Além disso, como não estou estritamente focado na música, mas a fazer outras coisas ao mesmo tempo, tendo a recair em trabalhos com os quais tenho alguma familiaridade. Basicamente, estas limitações forçam-me a replicar a típica abordagem compactada da rádio de música clássica, ou seja, ouvir clássicos já gastos.
Em resumo, podemos traçar a ascensão e queda da música clássica ou europeia enquanto forma de arte de massas ao longo de um arco histórico. Vai de um período de oportunidades revolucionárias abertas pela ascensão do capitalismo no século XVII, passa pelas crises profundas do século XX e termina com a degeneração da burguesia e do espaço disponível para a vida cultural que reina no presente.
Do rio para o delta
Há um aspeto mais positivo da crescente marginalização da música europeia. Formas musicais que o imperialismo europeu ea sua arrogância cultural tinham marginalizado capturam agora a imaginação de pessoas em todo o mundo, mesmo no Norte Global.
O vanguardista John Cage disse numa altura:
Vivemos numa época em que a cultura não responde a uma corrente dominante, mas a muitas correntes, se insistirmos na imagem de um rio do tempo, podemos dizer que alcançámos o delta, ou ainda mais longe, o oceano.
Ele dizia isso como uma reflexão positiva sobre o declínio da dominação das formas clássicas, da tonalidade, ou, no seu caso, até das expectativas tradicionais sobre a pauta e o som musical. Outros, contudo, pensam que isto significa a morte do que eles consideram música “séria”, ou melhor, a perda da música clássica como o núcleo do que invocamos quando pensamos sobre música.
Pela minha parte, estou do lado de Cage, no sentido em que penso que a proliferação de formas e estilos musicais é basicamente um elemento positivo. A hegemonia da tradição clássica na música era também a hegemonia de uma cultura europeia branca que supostamente representava o auge da arte civilizada. O desenvolvimento do jazz e do rock permitiu reconhecer o valor dos ritmos e sons africanos e negros. Desde então, a influência da música latina, ou os sons da cítara e do tambor metálico, continuaram a expandir a paleta auricular que acessamos e desfrutamos.
Boulez lembrava que durante uma viagem de juventude às Caraíbas e à América do Sul ele tinha descoberto a música espiritual do Candomblé, uma religião associada aos descendentes dos escravos negros no Brasil. Os sons destas regiões encontraram caminho em muitas das suas obras, desde Le Marteau sans maître (1955) até Sur Incises (1998).
Em períodos anteriores, a música clássica costumava estar aberta a tais influências. Mas hoje em dia procurou isolar-se delas. Recentemente houve uma espécie de histeria quando foi anunciada a nomeação do Grammy na categoria de música clássica para Jon Batiste e Curtis Stewart, dois negros que usam música popular, jazz e técnicas de blues nas suas composições para além das clássicas. Os gritos de fúria tinham um caráter abertamente elitista e também, mais subtilmente, racista.
Isto não quer dizer que as portas estão completamente fechadas. Os minimalistas americanos como Steve Reich e Philip Glass acolhem a influência da percussão africana e as canções de David Bowie, respetivamente. Julius Eastman, um compositor afro-americano negligenciado durante muito tempo, conseguiu uma fusão estimulante de minimalismo, ritmos pop e atonalismo. Os compositores britânicos Mark-Anthony Turnage e Thomas Adès fazem experiências com ska e outros estilos populares, enquanto o Concerto para Turntables de Gabriel Prokofiev (2006) tenta comunicar tradições musicais de diferentes épocas.
Batiste e Stewart, cujas nomeações despertaram tanta fúria na música clássica snobe, são músicos enraizados na tradição clássica, altamente talentosos, mas ainda assim em contacto com formas populares. Por exemplo, o álbum Of Colours (2016) de Stewart inclui uma reinterpretação jazzística estonteante de Quatro Peças para Violino e Piano de Anton Webern (1919).
De igual forma, os programas de concertos e gravações ainda são dominados pela música composta há cem ou duzentos anos. A maioria dos compositores da tradição clássica ou da tradição europeia trabalha hoje em dia com formas que têm muitas décadas ou séculos. Poucos se relacionam diretamente com formas contemporâneas de música popular no sentido que Haydn fez com seus minuetos, Maher e Bartók com o folclore ou Stravinsky com o jazz.
Recentemente houve algumas tentativas de recuperar as obras de compositores negligenciados pelo seu género ou raça. Assim, trabalhos de grandes compositores como Eastman, Ruth Grips e Florence Price, estão finalmente a ser reconhecidos e a ajudar a refrescar o reportório. Apesar de tudo, continua-se sobretudo a escavar o passado. Resumindo, o termo “clássico” acabou por denotar uma tradição que em termos gerais já deixou de imaginar o que poderia ser mas em vez disso se tenta agarrara ao que era.
.oOo.
Simon Behrman é autor de “Shostakovich: Socialism, Stalin & Symphonies”.
Traduzido por Gercyane Oliveira para a Jacobin Brasil. Editado para português de Portugal pelo Esquerda.net.
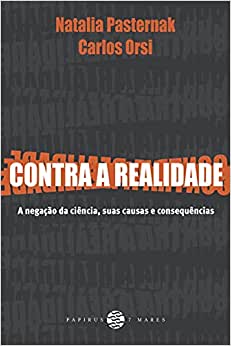 Este é o livro ideal para quem deseja saber como se forma e os efeitos deste monstro que é o negacionismo científico. Os autores têm texto enxuto, envolvente e objetivo, apesar dos muitos exemplos apresentados. Natalia Pasternak é a cientista, Carlos Orsi é o jornalista fascinado por ciência — e os dois funcionam muito bem juntos.
Este é o livro ideal para quem deseja saber como se forma e os efeitos deste monstro que é o negacionismo científico. Os autores têm texto enxuto, envolvente e objetivo, apesar dos muitos exemplos apresentados. Natalia Pasternak é a cientista, Carlos Orsi é o jornalista fascinado por ciência — e os dois funcionam muito bem juntos.













