Como já disse, neste blog é comum ocorrer comentários muito superiores ao post. E não pensem que não me orgulho disso. Vai lá, Hélio!
Hélio Sassen Paz
on Feb 8th, 2010 at 10:33 am
Milton,
Por um lado, hei de concordar com o Cláudio Costa, com o autor do texto que tu traduziste neste post e – muito provavelmente – contigo também, pois me parece que essa também é a tua opinião.
Porém, há um outro lado dessa história, que não pode se restringir nem tampouco centralizar discussão sobre a diminuição do tempo, do interesse, do envolvimento e da continuidade da leitura tão-somente no consumismo, na indústria cultural ou na exacerbação dos produtos do veículo televisão: falo do conservadorismo, da falta de investimento, do despreparo e da ignorância da esmagadora maioria dos professores nas escolas de um modo geral (públicas, privadas, ensino fundamental, médio, pobres, ricos, do Moinhos de Vento ou da zona rural de Ji-Paraná/RO).
Ler é algo muito chato quando não se sabe ler direito. Segundo o IBGE, mesmo entre pessoas com nível superior completo (inclusive muitos formados em universidades federais), o analfabetismo funcional chega à assombrosa cifra de 72% da população brasileira.
A leitura também é uma atividade muito chata quando, além de já não saber ler direito, a criatura não é ensinada a contextualizar nenhuma obra (seja ela de ficção ou não) ao momento histórico ou do qual o autor pretende tratar, ou do momento contemporâneo à sua criação e publicação.
A escola é muito chata quando o professor se posta em pé diante de todos e fala sem parar ou fica a escrever na lousa, como diriam nossos amigos d’além-mar.
Se compete pela atenção dos estudantes com a dinâmica imposta pela velocidade da edição dos thrillers de ação, dos videoclipes e de um telejornalismo que não ultrapassa um minuto e meio nas informações mais extensas. Até mesmo seriados e pequenos documentários que, antigamente, eram feitos para preencher uma grade de 1h por 15 min. de intervalo, agora preenchem 30 min. por 8 de intervalo.
A rotina é corrida; a leitura, por sua vez, é parada: o tempo para ler existe. Contudo, a consciência acerca da importância da leitura se esvai quando não existe competência pedagógica para associar a cultura imagética contemporânea a um caminho mais complexo e enriquecedor que somente a leitura pode proporcionar ao indivíduo.
Já assisti a duas palestras do prof. Adriano Duarte Rodrigues da Universidade Nova de Lisboa. Ele defende a tese de que a cultura midiática de um dado momento é resultado da experiência inata. Embora nem a Psicologia e nem a Engenharia Genética tenham ainda podido comprovar essa tese, o fato de lembrarmos da nossa infância; de como nossos pais e avós se referiam às suas respectivas infâncias e de como observamos as de nossos filhos, sobrinhos e, em alguns casos, até mesmo netos, sempre se nota que cada geração tem vindo ao mundo dotada de uma inteligência normalmente bastante superior à de seus antecessores.
Em relação à mídia, Duarte Rodrigues cita alguns exemplos bastante interessantes, que eu adapto ao meu entendimento pra simplificar:
– Minha mãe tem 76 anos. Parou de trabalhar aos 20, para casar-se com meu pai. Ela estudou até a quarta série do então primário. Foi criada por uma tia analfabeta e por um tio que só estudara até o ginásio. A cultura oral da era do rádio era muito mais forte do que a tradição escrita.
Até hoje, mesmo tendo acompanhado a televisão desde o seu início, ela não compreende as “deixas” simbólicas de quando começa, quando termina e quando um programa tem seu intervalo. Meu pai, que era três anos mais velho e era engenheiro de Minas e Metalurgia, também não compreendia essas deixas, por mais tempo que passasse na frente da TV após sua aposentadoria.
Minha irmã de 53, meu irmão de 51, minha irmã de 49 e eu, de 36 anos, todos somos da era da televisão. Todos nascemos com televisão em casa. Rádio, só pra música (basicamente na adolescência) e para futebol (eu) e notícias (meu irmão). Segundo Duarte Rodrigues e segundo minhas lembranças, não foi necessário nenhum manual de instruções para que a nossa geração (embora eu seja de outra) aprendesse a ligar a TV, aumentar e diminuir o volume, mudar de canal ou entender rapidamente quando um programa começa, quando termina, quando entra o intervalo e que seção de um programa começa ou termina quando entra ou sai de cena um determinado comunicador.
Pois hoje temos os nativos digitais. A internet comercial existe desde 1994/1995. Quem nasceu a partir de 1987 pode ser considerado nativo digital: seja rico ou seja pobre; tenha tido seu pai um computador antes de nascer ou passando a conviver com o hipertexto, com o correio eletrônico, com as salas de bate-papo e com veículos mais complexos como blogs, Twitter, etc. somente após começar a frequentar LAN houses, as deixas simbólicas da internet e o ritmo de mudança de um site para outro (ou de uma ferramenta de interação para outra) estão completamente dominadas. Eles não precisam de curso nem de manual de instruções para interagir!
Hoje, a comunicação não é mais matemática. O esquema emissor-receptor-mensagem dos engenheiros da marinha dos EUA Shannon e Weaver está superado. Outro modelo de teoria da Comunicação superado é o da ala marxista da Escola de Frankfurt: ao contrário do que diziam, por mais que tente, a mídia de massa não é o quarto poder, não influencia a todos e não consegue manipular corações e mentes.
Hoje, todos somos INTERAGENTES. O pensamento de um é fruto do pensamento de todos os que ele segue de exemplo e lê ou leu; os caminhos da busca de conhecimento de um jamais são iguais aos de outro, mesmo que tenha a mesma educação, a mesma idade, viva nos mesmos lugares e assim por diante.
Ser interagente significa também dominar rapidamente as técnicas e as ferramentas de produção, edição e publicação de conteúdo. É saber divulgar o seu próprio conteúdo. É ser a mídia de si mesmo para tornar-se mídia dos outros.
A cultura de nicho e a incessante mistura das funções de produtor e de usuário da informação na mesma pessoa e ao mesmo tempo fazem com que seja necessário concentrar esforços na compreensão da ubiquidade, isto é, de que estar em um lugar é estar em todos os lugares ao mesmo tempo.
A TV, o rádio, o jornal, a revista e o livro não são ubíquos, pois dependem de espaços físicos, de grades de programação, de segmentação de público e de um discurso massivo. Porém, quando circulam em um meio digital, podem ser alterados e consumidos por qualquer um a qualquer momento. Ninguém mais quer obedecer a padrões engessados que limitam o acesso e o consumo da informação. O que importa é ter acesso à informação aonde, como e quando o interagente quiser.
O suporte da informação é mais importante do que a informação em si não por causa do consumismo e da tecnofilia mas, sim, por uma questão de acessibilidade: o livro pós-moderno é um arquivo em PDF que permite anotações com a inclusão de áudio, vídeo e links para web sites com informação complementar, acessados pelo leitor ou pelo estudante na hora em que ele quiser e na ordem em que desejar.
Aqui mesmo, no Brasil, há escolas no meio do sertão onde os professores reforçam o conteúdo e o compromisso dos alunos blogando desafios e informações complementares. O estímulo à blogagem faz com que as crianças finalmente voltem a sentir-se estimuladas a ler e a escrever bem. Como cada um visita o blog do outro, emite comentários, acrescenta, corrige e traz novas informações. Como o professor também participa desse processo, ele não é visto como um conhecedor plenipotenciário. Assim, a empatia junto ao mestre aumenta e a turma se integra ainda mais.
Aulas dadas com o auxílio de Wikis, MSN, comunidades no Orkut, etc. tem aumentado o interesse dos alunos pelas matérias e, consequentemente, melhorado o seu desempenho. Lembretes de tarefas ou de novos posts no blog do professor via torpedos SMS e a permanência de todo o conteúdo de aula na web não apenas estimulam o senso de responsabilidade e atenção do aluno como também oferecem a possibilidade de os pais se engajarem no processo de aprendizagem.
Aqui no Brasil, há o mestrado e o doutorado em Informática na Educação da UFRGS, que pesquisa sobre novos métodos pedagógicos com as TICs (Tecnologias da Informação e da Comunicação). A USP também tem um pós semelhante. Aqui, a coisa anda bem atrasada, pelas informações que tenho sobre o comportamento arredio da maioria de nossos pobres professores conservadores e semianalfabetos. Mas em São Paulo, há projetos como o Educarede financiado pela Telefonica e coordenado por uma pessoa incrível, a profª Sônia Bertocchi. O Instituto Claro também investe muito nisso. Mas lá. E o que mais chama a atenção é a iniciativa isolada de milhares de professores espalhados pelo Nordeste.
Imagina este país com banda (verdadeiramente) larga gratuita e estável para todos!
Pra terminar: o estímulo à leitura para os nativos digitais pode passar pelo mesmo que ocorre comigo…
– Por não ser nenhum devorador de romances ou de poesias, por mais que leia, sempre gostei de reportagens, de depoimentos, de biografias e de livros sobre Ciências Humanas em geral. Sabes como me interessei por ler Drácula (Bram Stocker), O Retrato de Dorian Gray, 20.000 Léguas Submarinas, Alan Quatermain, Tom Sawyer e O Médico e o Monstro?
Após assistir ao filme LIGA EXTRAORDINÁRIA. Entrei no site oficial, catei informações sobre as personagens e baixei os livros (todos antigos, de domínio público) para ler.
Isso é o que os estadunidenses Bolter e Grusin chamam de REMEDIATION (remidiação) e que alguns autores latinoamericanos chamam de MIDIATIZAÇÃO: o discurso, o espaço público, as “bibliotecas” e a criação de tudo passa por uma combinação de mídias. A produção e o consumo de todas as mídias estão conectados. A troca é solidária e contínua. As transformações são bem-vindas e o acesso é total. Não existe o “pai da criança”, pois todos acrescentam informação.
O pensamento hierárquico e autoral não tem mais vez nesta sociedade. Quem age assim, tem menos condições de preparar seus filhos para o futuro e de se inserir devidamente nesta sociedade.
[]’s,
Hélio
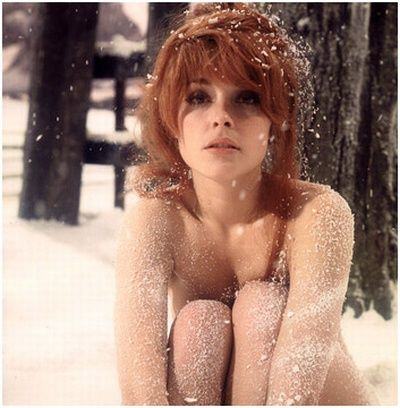




















 Grafite de Roberto Bolaño numa rua de Buenos Aires
Grafite de Roberto Bolaño numa rua de Buenos Aires