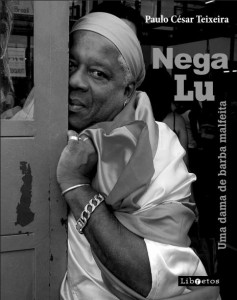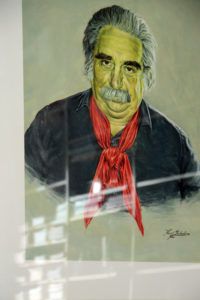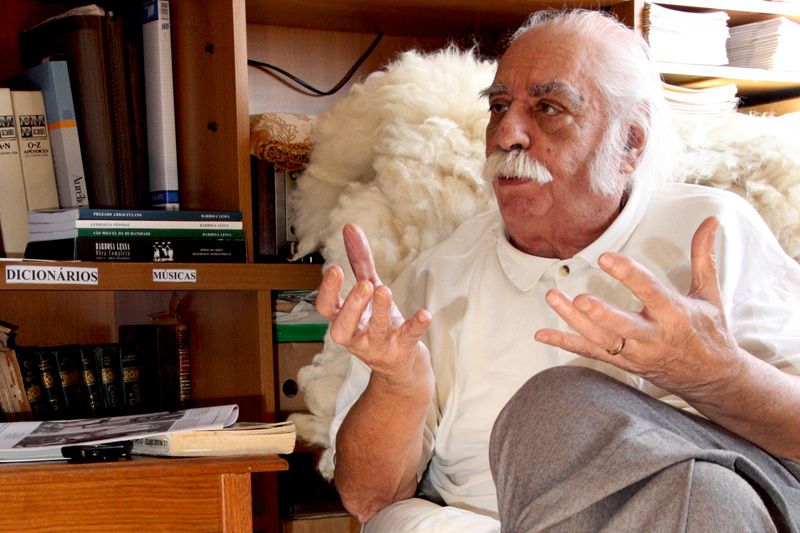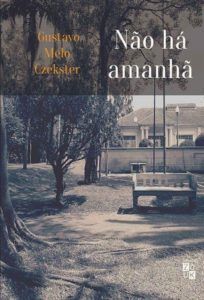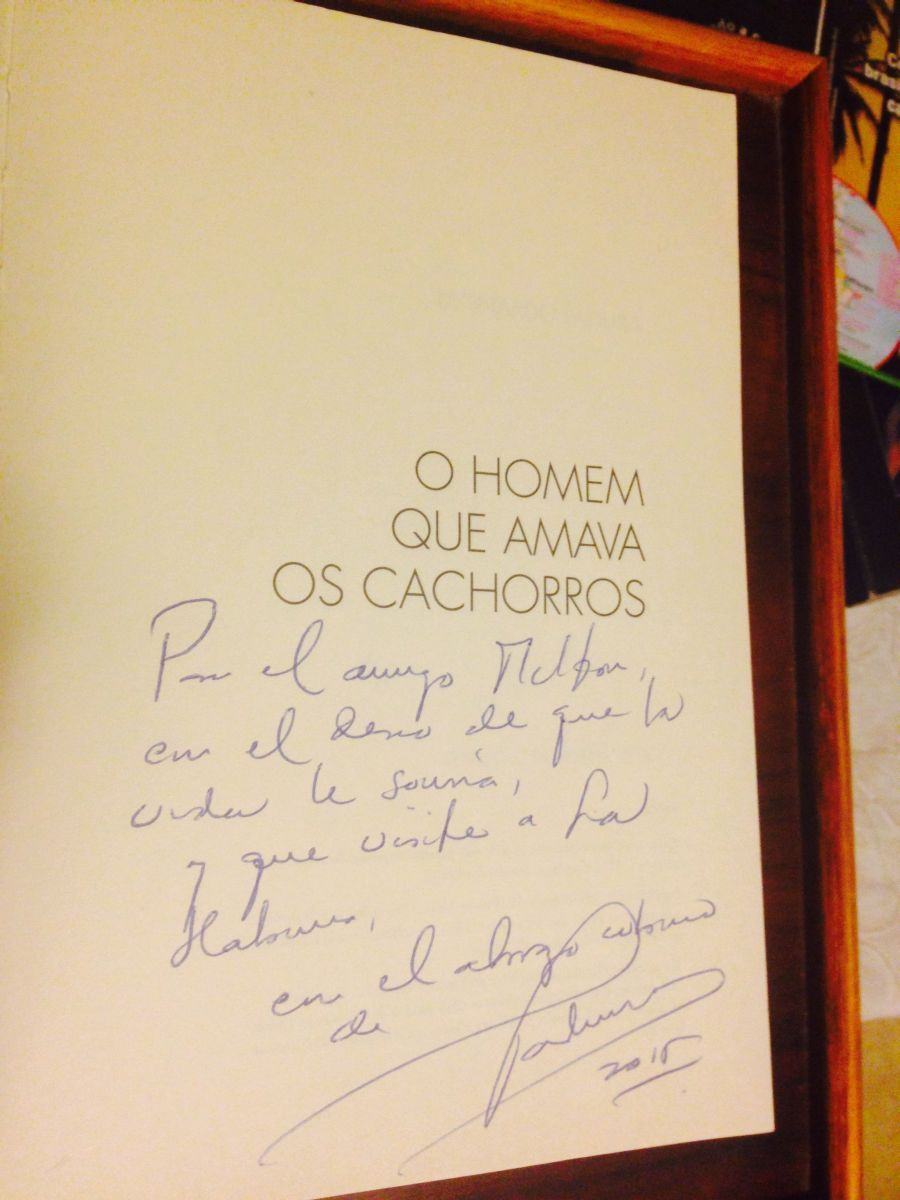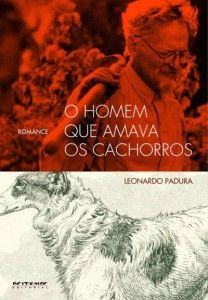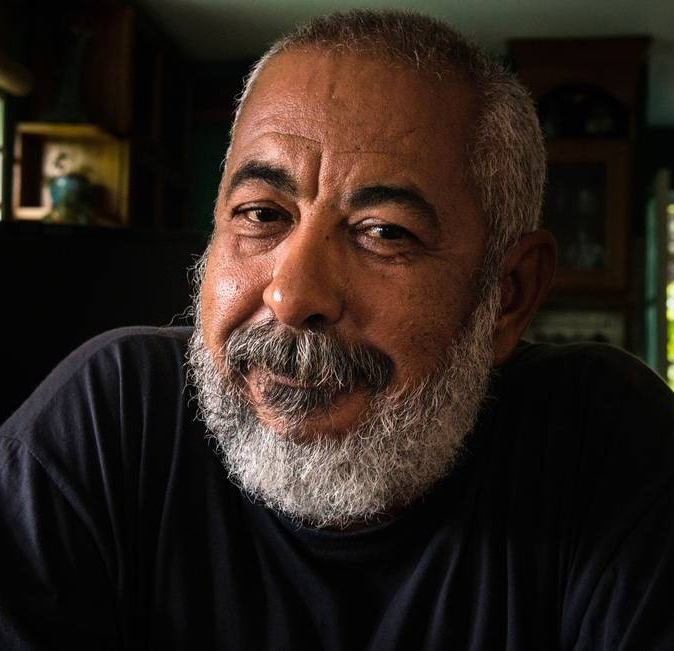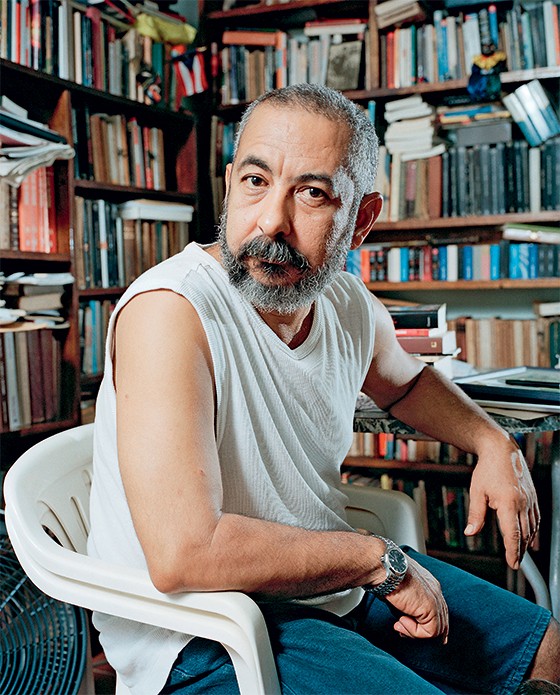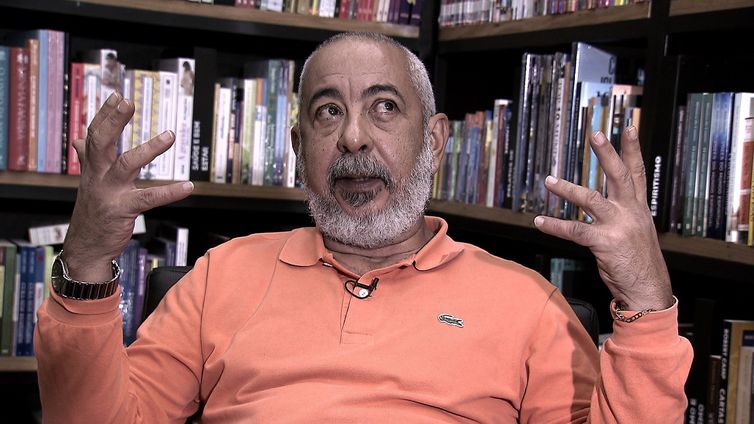Publicado em 18 de janeiro de 2014 no Sul21

Cora e Julia foram mais do que simples amigas durante a faculdade. A relação foi subitamente interrompida pela partida de Julia para Montreal. Tempos depois, Cora também foi ao exterior a fim de estudar moda em Paris. Certo dia, Cora liga seu computador e lá está um “Oi, tudo bem?, há quanto tempo” de Julia. Cora responde e logo está passeando pelo quarto de Julia através do Skype. Numa das cenas mais belas de Todos nós adorávamos caubóis, Julia caminha pelo apartamento, mostrando à Cora suas coisas e a neve de Montreal. Entre outras coisas, ela mostra, através da janela, o semáforo da esquina, que passa do vermelho para o verde, permitindo aos carros se moverem entre as árvores secas da cidade.
Elas combinam o reencontro. Pretendem fazer a viagem sempre adiada pelo interior do Rio Grande do Sul. A viagem seria feita sem planejamento, apenas com um mapa levando-as de uma cidade a outra. As duas trazem bagagens e expectativas distintas. Cora viera para assistir o nascimento do irmão — seu pai recém casara com uma jovem de sua idade, algo que Cora parece aprovar com reservas –, enquanto Julia parece estar ambivalente em relação ao namorado estrangeiro. O que uma espera da outra?
Enquanto isso, vagam sem objetivos pelo interior gaúcho. Um interior que não aparece da forma gaudéria, alegre e hospitaleira das histórias do 20 de setembro. Não que apareça hostil, apenas mostra-se estranho, sem pontos de contato com a urbanidade das moças. Mesmo que Julia tenha nascido em Soledade, elas são e estão de fora.
Após Pó de Parede e Sinuca embaixo d`água, o excelente Todos nós amávamos caubóis é o terceiro livro publicado pela porto-alegrense Carol Bensimon. Ela falou ao Sul21 no bar Tuim, tradicional local da Gen. Câmara. Por algum motivo, o formalismo habitual das entrevistas foi logo abandonado, tanto que a primeira interrogação foi desferida por Carol e não pelo entrevistador, o que transformou tudo numa agradável conversa.

Sul21: A ideia de falar contigo surgiu quando Todos nós adorávamos caubóis chega a Antônio Prado. Mais exatamente quando Cora e Julia saem da cidade e vão até aquela estátua, a dos caras que introduziram a bateria na música gauchesca.

Carol Bensimon: Não é que outro dia um cara no Facebook me compartilha uma foto com o monumento, botando: “Ah, a Carol fez uma bela homenagem” e daí os caras da música gaudéria começaram a comentar. Mas a ideia da entrevista veio dali por quê?
Sul21: Porque a literatura e o jornalismo gaúcho não costuma ser irônico. A tua referência não é especialmente ácida, mas também não é nada laudatória. Naquela cena tu achas graça da estátua, isso está na cara. Mas comecei a entrevista respondendo uma pergunta tua…
Carol Bensimon: Sim, a personagem faz gracinha com a história da bateria na música gaudéria. Meus personagens têm claramente uma visão urbana que estranha o interior, disso eu não tenho dúvida. Um jornal do Recife escreveu algo sobre “uma visão muito elitizada, uma visão muito burguesa”, me acusou de estar tripudiando sobre aquelas pessoas. Não é nada disso, mas é óbvio que minhas personagens são essencialmente urbanas, sentem-se mais ligadas e melhor numa grande capital do mundo do que propriamente no interior do seu estado. Trabalhei esses estranhamentos. Acho que, excetuando-se o romance histórico, a literatura das últimas décadas não está olhando muito pro interior.

Sul21: Na verdade, eu andei lendo Assim na Terra, do Metz. Ele fala de forma muito poética do homem do campo, é uma viagem de toda a vida sobre um cavalo, por assim dizer. O teu livro contrasta muito neste aspecto. Há a estátua, depois tu falas de toda a energia posta na customização de carros, da baixa qualidade dos vinhos brasileiros, de Cambará — “onde as pessoas caminham entorpecidas” –, do deserto de Minas de Camaquã, há a briga entre a Julia e o irmão fazendeiro.
Carol Bensimon: Uma coisa que descobri, quando me dispus a fazer essas viagens é que, na verdade, as pessoas destas cidades do interior não estão muito interessadas em “serem do interior”. Seu ideal é o de se afastar da aura de bucolismo. Para elas, quanto mais urbanas elas parecerem, melhor. Por exemplo, as casas históricas de Antônio Prado… Lá, houve uma grande polêmica que não está no livro. Nos anos 90, aquelas casas foram tombadas. São casas de madeiras enormes, bem típicas. As pessoas não queriam mantê-las. Teve gente que botou fogo na própria casa. O mesmo não aconteceu há pouco em Santo Ângelo? Queriam tombar várias casas e as pessoas estavam revoltadíssimas. O pessoal não tem muita consciência histórica. Querem derrubar e “modernizar” tudo.
Sul21: Acabam destruindo também uma possibilidade de turismo.
Carol Bensimon: Sim, a maioria das cidades é feia. São piores que Porto Alegre. Porto Alegre pelo menos é em parte arborizada. Essas cidades médias, como Santa Maria, não tem uma grande identidade visual.
Sul21: Qual é teu grau de interesse em urbanismo? Tu me escreveste no Facebook que estava lendo apenas livros de urbanismo.
Carol Bensimon: É uma coisa pessoal. Tanto que apareceu no meu primeiro livro (Pó de parede, 2008). Não urbanismo, mas arquitetura. Todos os contos eram centrados em coisas arquitetônicas. Meu interesse mais em cidades deve ter vindo da minha experiência em Paris. Lá há um pensamento, um planejamento que está ausente no Brasil.

Sul21: Vamos voltar ao livro. A questão da estrutura.
Carol Bensimon: A estrutura é mais ou menos linear. É a viagem, mas dentro disso tem rememorações o tempo todo. Acho que é um pouco do meu estilo. Eu queria que ficasse essa coisa para a frente e para trás. Não estou inventando nada de novo. É mais ou menos como funciona a memória, apesar de não ser como um fluxo de consciência. Vou montando.
Sul21: Como um mosaico?
Carol Bensimon: Tu achas que funcionou como um mosaico? Onde tudo fecha?
Sul21: Não é que feche. É um livro construído com cuidado. Eu queria saber se tu organizas a colocação dos mosaicos ou se tu os joga por livre-associação.
Carol Bensimon: Via de regra, as memórias de cada capítulo estão relacionadas com os acontecimentos presentes. Mas algumas coisas foram por tentativa e erro. Por exemplo, onde colocar a parte do pensionato? A festa à fantasia também foi uma cena que eu não sabia muito bem em que ponto ela deveria ser revelada.

Sul21: E Thelma e Louise?
Carol Bensimon: Quando eu estava escrevendo o livro, li uma obra teórica sobre road movies. O livro é Driving Visions, de David Laderman. Ele fala que essas narrativas de estrada foram inauguradas com On the road, de Kerouac. Mas aí o cinema se apropriou do gênero. São analisados vários filmes divididos por décadas e vai mostrando como o gênero muda. O fato é que raramente as mulheres protagonizam esse tipo de narrativa. Thelma e Louise é quase inaugural nesse sentido. Mas fico muito intrigada com o final do filme. Dá pra fazer uma leitura feminista e também o contrário. E vários desses filmes acabam em morte. Eu tinha preocupação em não fazer um final assim.
Sul21: Mas não é um livro alegre, na minha opinião.
Carol Bensimon: Não sei. Acho que ele tem um quê de esperança. Tem a coisa da viagem, do movimento e da ideia de liberdade. Acho luminoso. Mas, também concordo, lá tem uma coisa melancólica: a questão de que a viagem acontece com anos de atraso.

Sul21: Sim, há muita coisa fora do lugar. A hora escolhida para a viagem não é adequada, segundo a família. Quando Julia encontra sua família é um horror completo. Mas me fala sobre isso aqui na página 19. “Era como se você passasse meses cogitando pintar o cabelo de azul, e de repente percebesse que tanto tempo cogitando, analisando, imaginando, tinha acabado por satisfazer por completo seu desejo de rebeldia”. Tu já tinhas visto Azul é a cor mais quente quando escrevesses isso?
Carol Bensimon: (risadas) Hoje eu pensei nisso. Quando escrevi, não existia o Azul cor mais quente. O filme apareceu em maio em Cannes. Ele ganhou o festival, li a história e fiquei muito empolgada para ver o filme. Mas nessa época eu já tinha terminado o livro. Então é casual. Pura coincidência. Mas mesmo se não tivesse isso do Azul, já daria pra fazer uma certa conexão com o filme. Eu achei muito universal, me identifiquei. Se tu não tiveres preconceito, é uma história de amor. Por exemplo, aquela cena das duas no café, a tentativa de reconciliação. Aquilo é foda. E quem nunca vivenciou uma cena daquelas? Tu vais lá com a pessoa e suplicas mesmo.
Sul21: Onde entra, na tua opinião, a questão da militância gay?
Carol Bensimon: Não sei se ele entra na militância gay. Eu acho que ele entra mais na experiência particular de quem vai pegar o livro e se identificar com aquilo em termos de sexualidade feminina ambígua. Acho que a gente está num momento posterior a isso, desse rótulo de literatura “gay”. Talvez fosse um escândalo lançar o livro há 10, 15 anos. Eu tenho uma pequena lista de filmes onde duas gurias se envolvem. Pequena lista de três. (risadas). Tem um filme argentino chamado El niño pez, de Lucia Puenzo. Ela também fez aquele filme que se chama XXY. Nos dois filmes, ela trabalha essa questão da sexualidade, de gênero. Depois tem um filme ótimo, francês, chamado Lírios d’água, de Céline Sciamma. É um universo curioso porque são duas meninas que fazem nado sincronizado e uma delas está meio em negação e a outra sofre.

Sul21: Queria que tu comentasses a frase: “Minha atração pelo sexo feminino era uma doce aventura e ao mesmo tempo uma condenação ao mais claustrofóbico dos universos”.
Carol Bensimon: Vamos lá. Acho que a personagem vê o exercício de seu lado gay como uma certa transgressão. Ao mesmo tempo há uma limitação, prisão, sei lá como diz, um universo claustrofóbico. Ela fala num determinado momento que talvez se sinta mais atraída por meninas supostamente heterossexuais do que por lésbicas, e isso cria um certo problema. Ela fala nisso. Ela queria ter uma chance com qualquer pessoa que encontrasse na rua. Com a frase, ela também se refere à questão familiar. Não chega a ser o drama do livro, mas a família não encara os fatos. O livro fala mais das questões mal resolvidas entre Cora e Julia. Em nenhum momento a Cora chega a confrontar a Julia. Nem no passado, nem na viagem. Não há do tipo ”Tá! O que é isso que a gente tá tendo?”. Mantém-se uma ambiguidade que tem o seu lado aventureiro e seu lado angustiante.
Sul21: Tu falaste numa sexualidade mais fluida que seria uma característica de nosso tempo. Tu achas que esse tipo de sexualidade fluída pode ocorrer entre homens, assim como ocorre entre mulheres?
Carol Bensimon: Não, é mais difícil. Porque o papel está mais delimitado no gênero masculino. É uma coisa cultural. As gurias experimentam. Namorar uma guria e daqui dois ou três anos ela estar casada, com filhos… Ninguém vai achar isso tão estranho assim. Com caras não acontece isso. É uma coisa cultural, simplesmente. Dia desses, assisti a um documentário francês sobre bissexualidade. A maioria das entrevistas eram feitas na França, e aí já temos uma dimensão totalmente diferente, por exemplo, da bissexualidade masculina, até porque vários caras que participavam eram pessoas do ramo das artes e se declaravam bissexuais. Eram figuras públicas e tal. Certamente isso ainda não chegou ao Brasil. A noção de masculinidade varia de país para país. O francês pode parecer efeminado e ser hétero.
Sul21: Há preconceito das lésbicas contra as bi?
Carol Bensimon: Sim, bá, total. A gente tem essa sigla LGBT e, nos anos 90, lembra que era só GLS? O B está ali só como uma letra. Acho que há um preconceito forte dentro da comunidade, em vários sentidos. Primeiro, parece que os bissexuais são meio que “traidores” do ponto de vista das feministas. Então podem ser mais ainda entre as lésbicas feministas. Que mais posso dizer sobre isso? Há também este rótulo de promiscuidade… Vários gays e lésbicas acham que bissexuais são gays enrustidos que não saíram do armário.
Sul21: Há meninas que ficam com gurias em festas, mas se dizem hétero…
Carol Bensimon: Aí acho que entra outro fator que é muito contemporâneo, que é a coisa das gurias ficarem para chamar atenção dos homens. Aí é muito confuso. Há diferenças sobre como são vistas as mulheres bi e os homens bi. O senso comum acha legais mulheres bi – tem a ver com a pornografia. Parece que as mulheres estão fazendo um espetáculo pros caras. São como nos filmes pornô. As mulheres ficam se pegando, mas só enquanto o cara não chega pra comer. É sempre uma questão de preliminares. A meninas a que tu te referiste são chamadas pelo termo heteroflexíveis. A pessoa se considera hétero mas as vezes ela fica com o mesmo gênero. Então, várias dessas meninas das festas podem ser heteroflexíveis, mas não se consideram assim.
Sul21: Evidentemente, o nome da narradora, Cora, é uma brincadeira com teu nome, né? Coloca o L e muda o lugar da vogal e chegamos à Carol.
Carol Bensimon: Não, não foi de propósito. É sério.
Sul21: Tu vais querer me vender essa??
Carol Bensimon: É que se eu contar a história de verdade vai ser pior ainda.
Sul21: Vai ter que contar!!!

Carol Bensimon: Em off só, realmente não tem nada a ver.
(…)
Sul21: Tu me falaste, também em off, que tinha algum plano pro livro de virar mini-série ou filme.
Carol Bensimon: Eu vendi os direitos. Eu vendi para a RT Features do Rodrigo Teixeira. Ele compra bastante coisas contemporâneas. Ele comprou o Sinuca embaixo d`água.
Sul21: Não o Caubóis?
Carol Bensimon: O Caubóis também. Mas primeiro ele comprou o Sinuca. Ele comprou Caubóis antes do livro ser escrito.
Sul21: Isso tem tempo de validade?
Carol Bensimon: Se não me engano é um contrato de dez anos. É um pouco angustiante, porque não sei se virar mesmo filme. As pessoas dizem que daria um puta filme. É difícil saber quando vai sair. O Sinuca ainda não saiu. Mas tu viu o book trailer?
Sul21: Não.
Carol Bensimon: Sério?
Sul21: Eu vi só o book trailer do livro do Marcelo Backes, O último minuto, muito bom.
Carol Bensimon: Tu tens que ver. É incomparável, é uma coisa muito foda que a Liliana Sulzbach fez. É um filme. É um trailer de filme. E vê-lo deu ainda mais vontade de ver em filme. Até porque não sei até quando aqueles lugares vão durar.
Sul21: Como é que é Minas de Camaquã? O que é aquilo? É abandonado? Tipo a Paraty de antes dos anos 70?
Carol Bensimon: A comparação não é muito válida. Era uma cidade de mineração que tinha vivia da exploração de cobre desde o século 19, com os belgas.

Sul21: Onde fica isso?
Carol Bensimon: Entre Bagé e Caçapava. O Baby Pignatari era o dono das minas da Companhia Brasileira do Cobre (CBC). Eles construíram essa cidade pros mineiros e pras pessoas que trabalhavam. Então foi uma cidade planejada. Toda ela é circular, as ruas são circulares. Então num primeiro raio tu tens as casas dos engenheiros, depois as dos mineiros, etc. As casas vão ficando mais simples. Acho que a população era maior do que a de Caçapava. Lá tinha cinema, Caçapava não. E então acabou o cobre. Quebrou a Companhia. Daí, nos anos 2000, houve um leilão e eles venderam aquelas casas por um preço ridículo, 500 reais cada uma. Então essas casas voltaram a ser ocupadas como casas de fim de semana das pessoas que moram em Caçapava ou Bagé.
Sul21: Mas tem alguma coisa de atrativo lá?
Carol Bensimon: Sim. São aproximadamente 500 habitantes. A impressão que eu tenho é que todas as cidades do interior seriam daquele jeito se elas não tivessem se descontrolado completamente em termos de planejamento urbano, sabe? O local tem uma aura, uma personalidade. Irei novamente para Minas de Camaquã agora no final de janeiro.
Sul21: Como é que tu descobriste?
Carol Bensimon: Uns amigos me falaram. Porque ali perto tem umas formações rochosas que chamam de guaritas. Eles começaram a falar desse lugar. E daí eu conheci uma leitora de Caçapava que entrou em contato comigo e quando eu falei das Minas ela disse que a família dela tinha casa lá e que poderíamos fazer uma visita. Foi a primeira vez. No book trailer, fomos pra lá. Tu me perguntaste sobre os atrativos. O atrativo é a paisagem que é muito massa, tem lugares pra subir. Há o rio Camaquã que passa ali e tem toda essa estrutura abandonada. As casas têm certa manutenção, mas os prédios da mineração estão bem detonados.

Sul21: E os OVNIs de lá…?
Carol Bensimon: Ah, sim, tem a sede do projeto Portal lá.
Sul21: Tem mesmo?
Carol Bensimon: Sim. É enorme. Pavilhões.
Sul21: Tu conversaste com os caras?
Carol Bensimon: Não. Nunca vi ninguém lá.
Sul21: Mudando utra vez de assunto, me diz uma coisa, o que tu achas das oficinas literárias? Tu participaste da oficina literária do Assis Brasil, tu achas que ela acrescentou algo pra ti?
Carol Bensimon: É sempre meio que clichê essa resposta, sabe? Porque encurtou caminhos talvez. Indicou leituras, apresentou teorias. Eu poderia ter intuído tudo, mas talvez demorasse mais tempo assim. E, depois, talvez o mais importante seja a troca com o Assis e com os colegas, porque chega um momento em que uma pessoa escreve um conto e todos têm que analisar aquele conto. A aula inteira debatendo. Antes disso tu mostrava pra mãe, pro namorado, pro irmão. Nesse sentido é importante.

Sul21: Como tem sido a repercussão do livro?
Carol Bensimon: Não sei se tu conheces o Skoob, aquela rede social? Às vezes entro pra olhar. Primeiro tem uma discrepância absurda entre o número de homens e mulheres que estão lendo o livro. Mulheres são mais de 80%. Se pegar meus outros livros, é mais equilibrado. E tem esses blogs com resenhas. Blogs sobre livros, muitos de fantasia. Eles leem o livro e gostam, é curioso. Mas um cara me detonou da Folha de São Paulo. Falou que era previsível. Tudo bem.
Sul21: Eu fico surpreso de alguém achar previsível, porque o previsível é quando tu provocas um conflito e dá um final esperado. Não é o caso do teu livro. E esse negócio da música no livro? Tu usas como recurso expressivo ou o quê? A Cora num momento diz “que as músicas gaudérias estão tão longe dela quanto a música celta, batuques aborígenes “.
Carol Bensimon: Eu acho que eu uso a música um pouco como frustração, porque eu queria que o livro tivesse trilha sonora. Então cito uma série de músicas. Inclusive dou opiniões do tipo: “essa música abre o melhor disco do Led Zeppelin”. Tem um pouco a ver com o processo criativo. Eu postei uma playlist no Facebook e fez um tremendo sucesso, não sei por quê.
Sul21: Porque tem música boa, claro.
Carol Bensimon: Tu ouviste?
Sul21: Não, mas li e conheço várias.