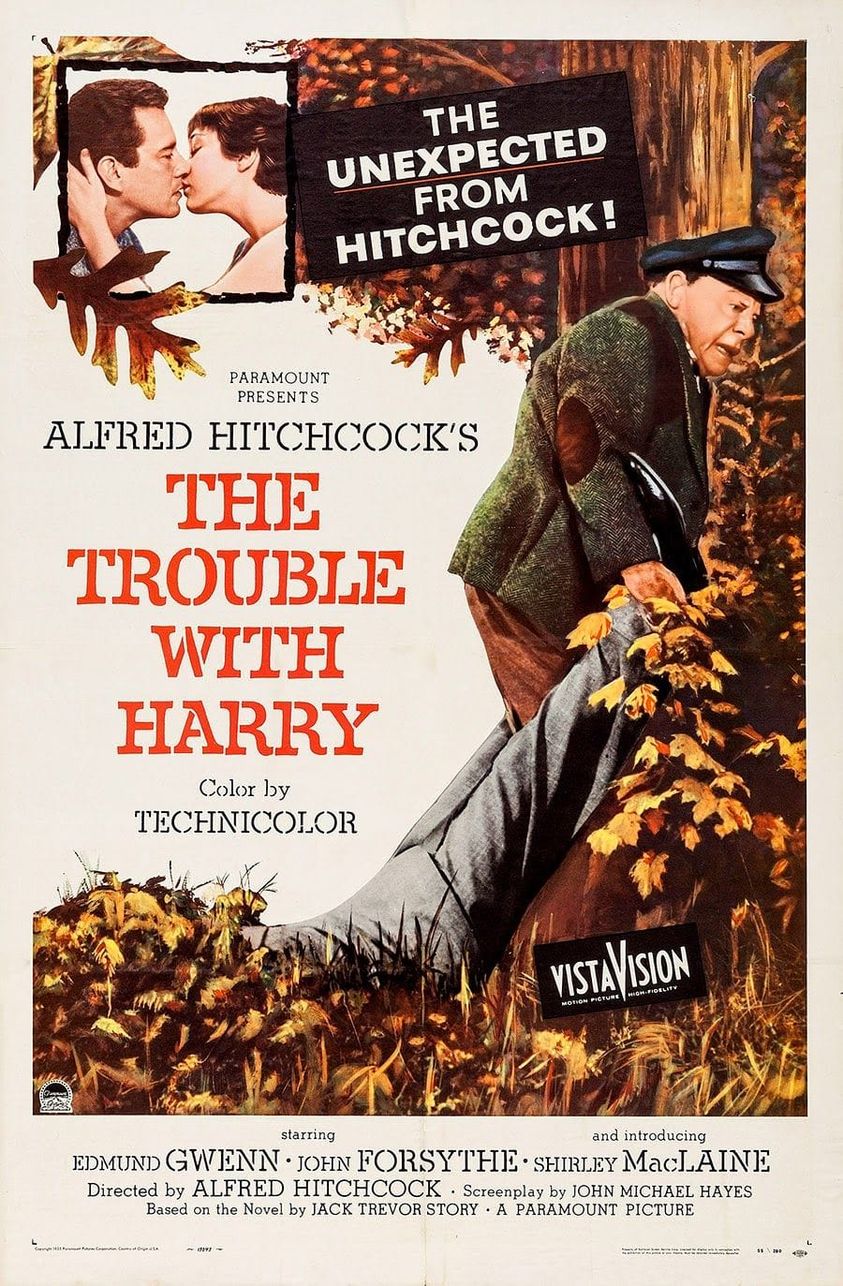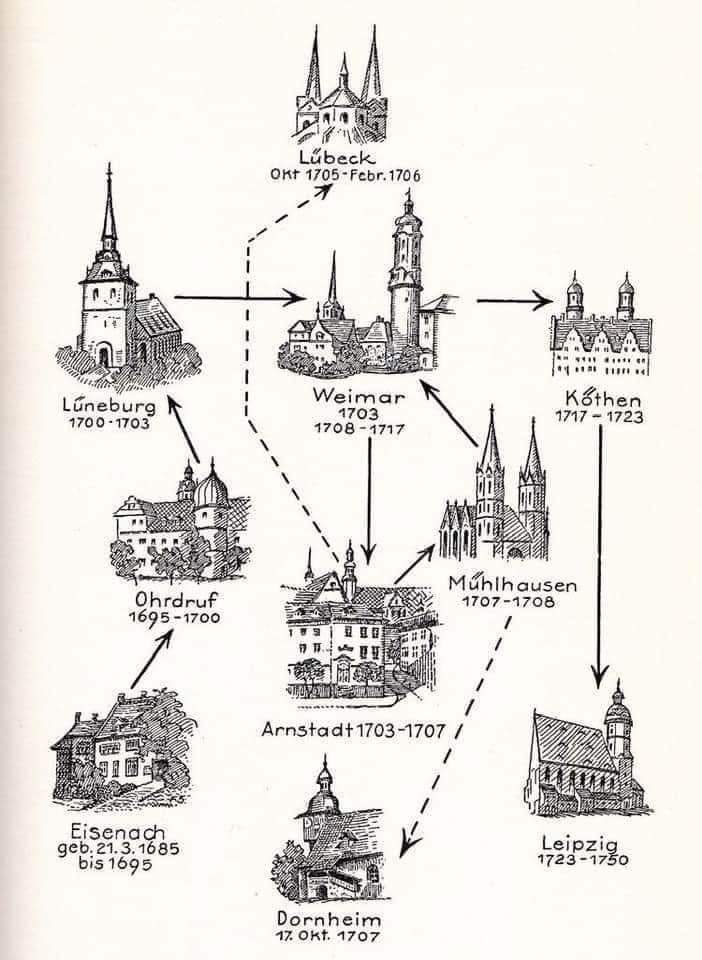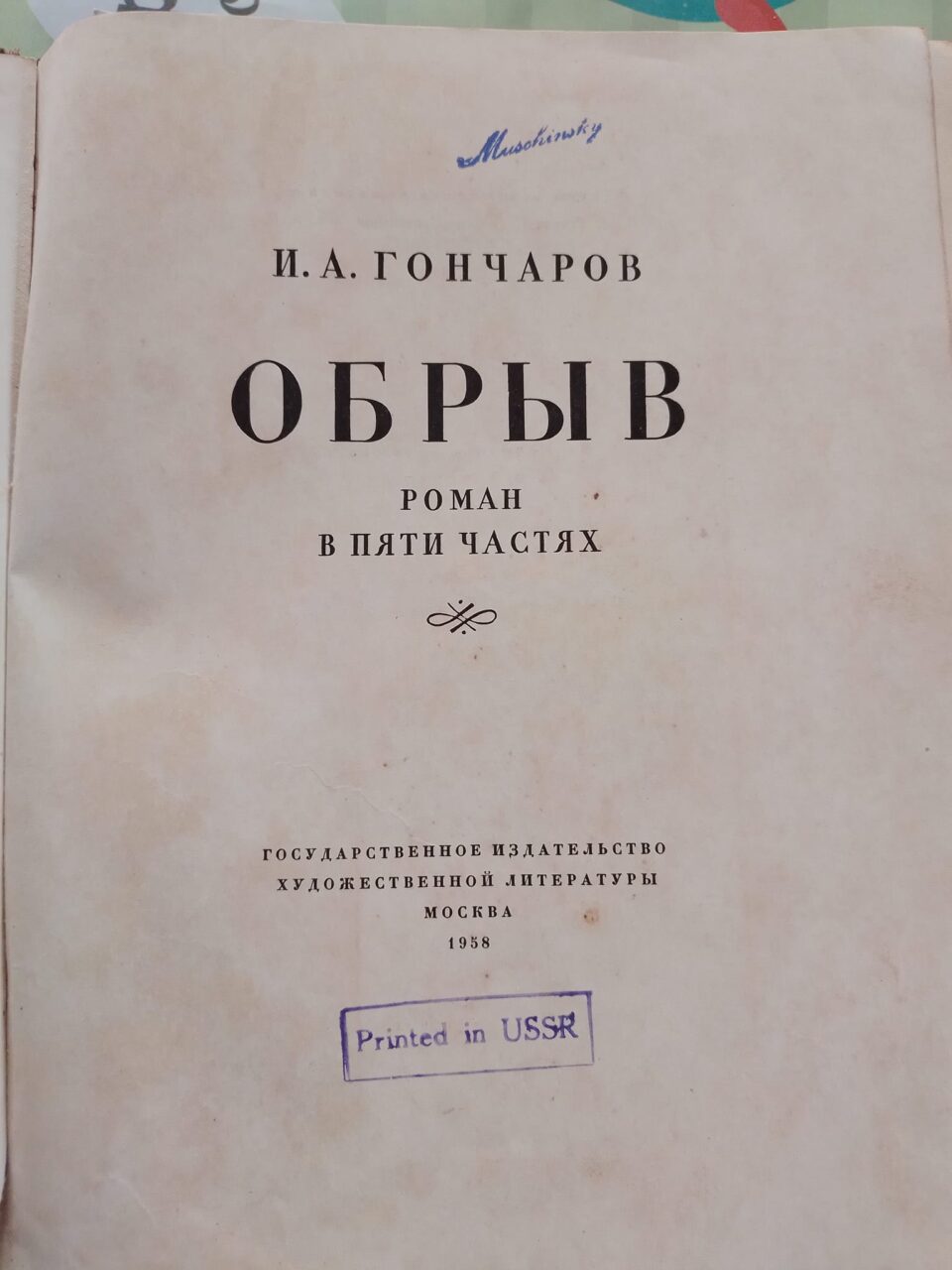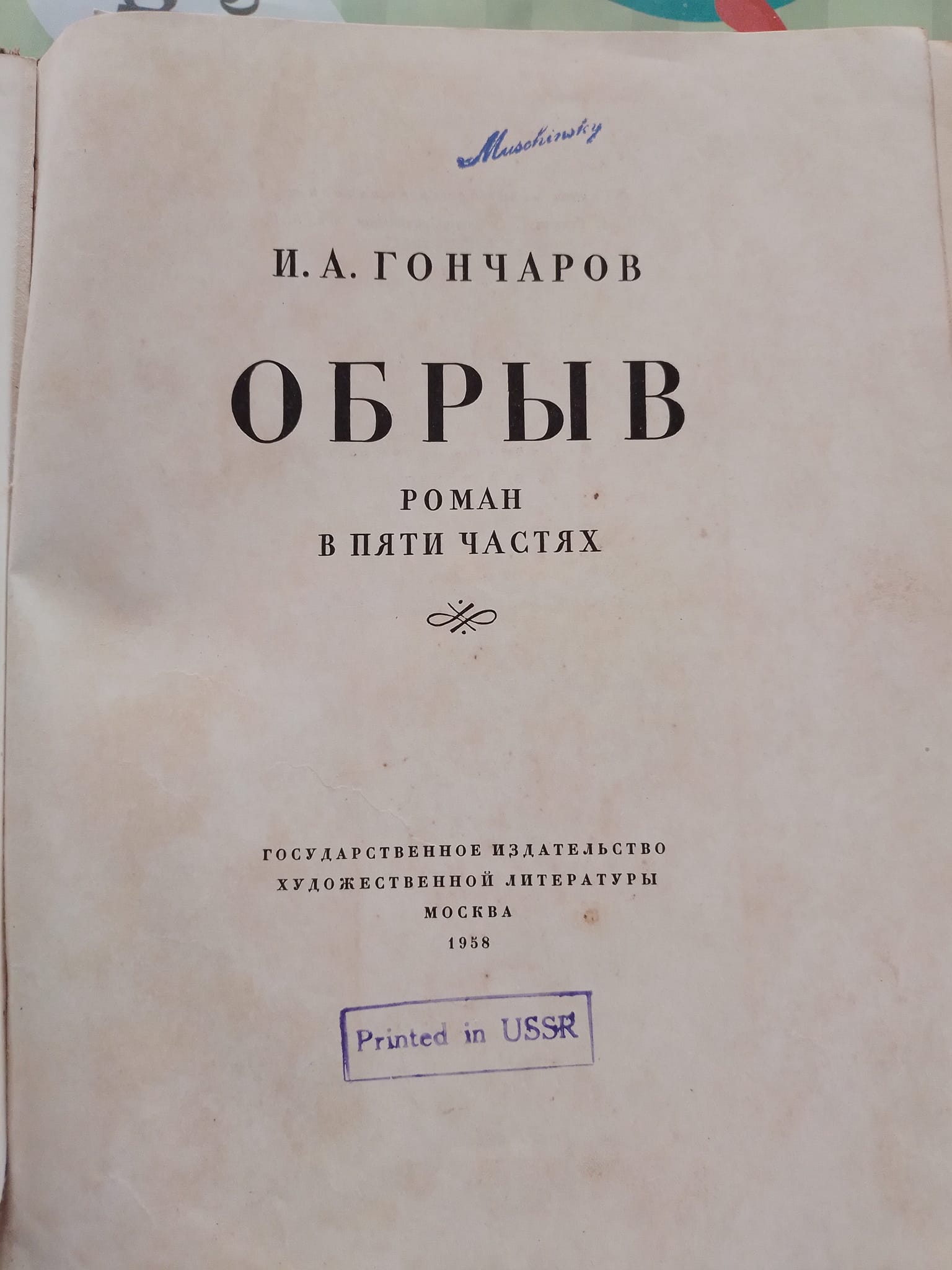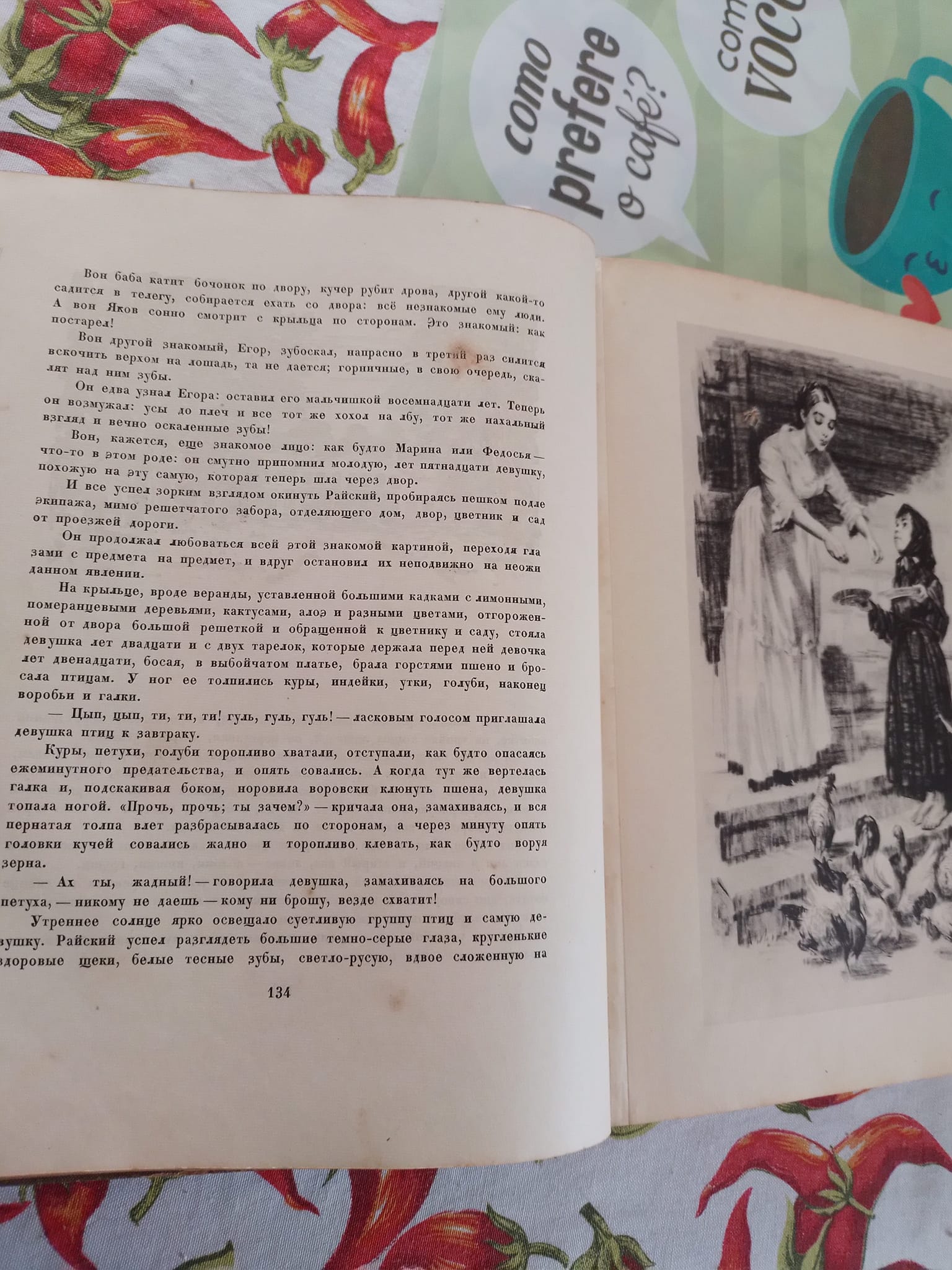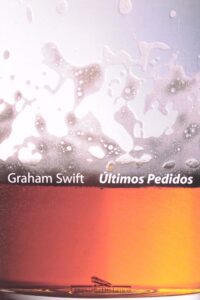O presente texto é produção de Matheus Donay da Costa, que na época de publicação do texto estava no quarto semestre do curso de História da UFSM. Trata-se de uma revisão do livro “Somos Azuis, Pretos e Brancos”, do jornalista Leo Gerchmann. Matheus é integrante do Stadium- Grupo de Estudos de História do Esporte e das Práticas Lúdicas. Os resultados parciais deste trabalho foram já apresentados e o resumo publicado nos anais do XIV Encontro Estadual de História da Associação Nacional de História – Seção Rio Grande do Sul (ANPUH-RS), em julho de 2018.
.oOo.
Quantas cores cabem em um clube de futebol? Na cidade da longevidade, Veranópolis (interior do RS), o clube homônimo carrega um título pouco comum no esporte: pentacolor. A seleção holandesa carimbou na história apelido que dialoga com sua cor, imponente e singular. Nos tempos de Cruyff cunhou-se o termo “Laranja Mecânica”. Na mesma década do sucesso holandês, as arquibancadas do estádio Olímpico transformavam o Grêmio num clube de 7 cores: as do arco-íris, por méritos da torcida Coligay.
Em 1903, ano da fundação, foi definido que o uniforme do Grêmio seria listrado nas cores azul e havana, com gravata branca. Por falta de oferta no comércio, o havana foi substituído pelo preto e assim se fazia o tricolor de Porto Alegre. É o que nos conta o jornalista Leo Gerchmann no seu livro Somos Azuis, Pretos e Brancos, publicação que provoca algumas inquietações em leitores curiosos.

Comigo, a relação com o livro inicia-se no inverno de 2015 em Santa Maria. Lembro que fazia bastante frio e fui à feira do livro em busca da recém lançada obra da L&PM, o livro do Gerchmann. Indisponível, mandei mensagem para o autor. Em 2 dias, estava em destaque na banca da editora. Texto lido, alguns questionamentos na cabeça, novas histórias e personagens a conhecimento do público. Histórias que, conforme o autor, ficaram esquecidas ou deixadas em segundo plano por muito tempo por diversas razões.
O tempo passou, entrei no curso de História e, em contato com aquele universo cotidiano de palavras – historiografia, fonte, método, teoria – um ensinamento: ler a contrapelo. Assim voltei à obra do Leo, sabendo que não se tratava de uma produção acadêmica, ainda que fosse um livro de história (como está identificado na sua classificação). E a história, se pretendemos levá-la minimamente a sério, exige método. Logo de cara constatei: esta história pra mim começa no gelado inverno santamariense de 2015, para o Leo começa (ou se intensifica) numa noite fria de agosto de 2014, quando ocorre o episódio de racismo com o goleiro Aranha na Arena.
Não demorou muito para que o clube abrisse suas portas para o lançamento de Somos Azuis, Pretos e Brancos. Eis uma nova memória em disputa, diferente daquela difundida popularmente: o clube do povo (Internacional) versus o clube da elite branca (Grêmio). A proposta do autor é clara: acabar com a pecha atribuída ao tricolor, desfazer a injustiça. Marcos Rolim, autor do prefácio, é enfático: “A investigação histórica de Léo Gerchmann nos libertou”.
Mesmo que escrito por um jornalista e a obra seja reivindicada como livro-reportagem, chamo a atenção para um aspecto fundamental. Aqui, faço uso de um trecho do livro “Pesquisa Histórica e História do Esporte”, elaborado por diversos pesquisadores da área. “A questão é simples e óbvia, mas deve ser relembrada, inclusive porque é clara a característica multiprofissional do campo de investigação (no qual atuam “historiadores de formação”, mas também oriundos de outras áreas): qualquer que seja a opção teórica/metodológica adotada, a história do esporte é sempre história. São os debates da disciplina-mãe (bem como das ciências humanas e sociais como um todo) que devem nortear a atuação do pesquisador, independentemente da sua área original de formação.”
Com base na leitura de Somos Azuis, Pretos e Brancos, tentei pinçar as fontes utilizadas, afinal, é impossível revisitar o passado sem acessá-las. Nas primeiras páginas, as fontes são indicadas como documentos abertos de forma irrestrita pelo Grêmio (no livro aparecem ainda algumas colunas de jornais e fotografias), além do auxílio do Memorial Hermínio Bittencourt e do Museu do Grêmio, ambos pertencentes à instituição, além de alguns entrevistados. Todavia, o grande problema de Somos Azuis, Pretos e Brancos reside aqui, nas fontes.
Fontes orais
Num mundo tomado pelas fake news, quem preza pela qualidade de uma informação/afirmação demanda que ela seja corroborada de alguma forma. Assim, toda e qualquer conclusão há de ser amparada em fontes concretas, estilhaços do passado que nos oferecem caminhos para buscar acessar o que já aconteceu. Em Somos Azuis, Pretos e Brancos, constantemente são expostos relatos orais de entrevistados. Frente a esta situação, me questiono: o que Gerchmann faz em seu livro é história oral?
Na historiografia, a pertinência dessa metodologia é constantemente debatida. Afinal, é a história relatada por um indivíduo, com suas crenças, suas emoções, sua subjetividade. História oral não é um fim em si mesma, e sim um meio de conhecimento (Alberti, 2007). Quando se estuda um tema através da oralidade, é preciso estudar os diversos discursos produzidos pelos entrevistados, ou seja, as variadas narrativas tornam-se objeto de análise.
Vamos aos casos de Somos Azuis, Pretos e Brancos. No segundo capítulo, Gerchmann expõe uma situação em que o Internacional não aceitava analfabetos. A fonte? “Relatos de pessoas que viveram os primórdios do clube”, segundo ele. Mas quem são essas pessoas? Quando isso foi sabido? Curiosamente, esse tipo de produção de história nos remete muito ao que Gerchmann critica em seu texto: histórias transmitidas sem responsabilidade, que perpetuam atribuições que a princípio não condizem com a instituição. Aliás, a denúncia é interessante. Uma investigação contundente poderia trazer informações inéditas acerca de uma eventual exclusão por parte do Internacional.
Em outro momento, Léo recorre a Tarciso (atacante negro do Grêmio dos anos 70 e 80). Para corroborar a tese, diz Tarciso: “Nunca sofri preconceito no Grêmio. Fui muito bem acolhido e vivi grandes alegrias. Sou muito grato ao torcedor gremista e ao povo do Rio Grande do Sul.” Contudo, vale pontuar que Tarciso é o segundo maior artilheiro da história do clube. A acolhida e o trato com um jogador de glórias dentro das quatro linhas podem transcender (ou amenizar) muitas barreiras raciais, não?
Somos Azuis, Pretos e Brancos é recheado dessas conclusões amparadas por uma metodologia pouco crítica, que arbitrariamente escolhe o que considerar e o que relevar. Utilizar as palavras de um jogador negro para descartar a discriminação no clube é no mínimo duvidoso. O mesmo ocorre com a transcrição de falas de Alcindo, o maior goleador do Grêmio. Segundo ele, sempre achou estranho quando diziam que o clube era segregacionista. “Xingamentos racistas? Oriundos apenas da torcida do Internacional.”
Analisando todas essas passagens do seu livro, é notório que há um esforço em fazer história através da metodologia oral. Ao passo que há este esforço, há também muitas idas na contramão de uma história oral coesa. Primeiramente, por afirmações não corroboradas por outros tipos de fontes. Em segundo lugar, por considerar a narrativa dos seus entrevistados (o restrito nicho de dois ex-atletas negros do Grêmio) provas irredutíveis. Não há crítica ou investigação histórica, como recomenda-se. A compreensão também fica menos nítida por não saber que tipo de perguntas Gerchmann fez às suas fontes e como conduziu as entrevistas.
Fontes documentais
Trabalhando com documentos, Leo Gerchmann dedica um capítulo inteiro para o primeiro estatuto do clube, uma consolidação das primeiras atas. Segundo ele, um documento de vanguarda que seria aceito por qualquer entidade progressista do nosso século. Aqui, me chama a atenção as interpretações extraídas dos artigos do estatuto. Dos deveres dos sócios, o artigo 6 exige bom comportamento no recinto da sede e fora dela. Léo celebra tal exigência no comentário que a segue. Mas afinal, o que seria um bom comportamento no ano de 1911, pouco mais de 20 anos após a proclamação da República, em uma Porto Alegre em constante crescimento urbano e industrial?
Ainda no estatuto, Gerchmann não poupa exclamações para salientar um trecho que exige o respeito às nacionalidades, crenças e opiniões de seus consócios. Me pergunto de novo, quais são as crenças e as opiniões dos consócios do Grêmio em 1911? Para validar a ideia de que este artigo do estatuto sugere um clube democrático (como é feito no livro), seria indispensável saber quais são as crenças.
O autor ainda endossa um trecho que fala em “vedar a entrada no recinto do Grêmio às pessoas que achar inconvenientes” traçando um paralelo com a atualidade, onde o Grêmio e outros clubes têm tentado fazer com as torcidas organizadas. Mas afinal, deveriam as torcidas organizadas serem vedadas e tratadas como inconvenientes? Uma posição pouco comum entre aqueles que defendem um futebol popular.
Fontes fotográficas

Outro recurso que é muito utilizado no livro são as fotografias, principalmente no capítulo “Os negros além de Adão”. Ainda que seja muito sugestiva, uma foto não contém em si uma verdade absoluta. São inúmeras as variáveis: luz, sombra, estado de conservação, revelação do filme, principalmente fotografias em preto e branco.
No livro são apresentadas fotos de jogadores identificados como negros e mulatos pelo autor, com propósito de desmentir a história de que Tesourinha, apenas em 1952, teria sido o primeiro jogador negro do Grêmio. Buscando por outras fontes que dessem alguma pista, encontrei a biografia de Tesourinha publicada por Sergio Endler em 1985. Ele afirma: “Na verdade o Grêmio já utilizara em sua equipe jogadores considerados “baianos”. Isto é, homens com algum traço biológico negro, mas com predominância branca na sua aparência física.”
Todavia, Endler não trata o tema com a devida precisão, o que exigiria uma investigação mais profunda. No mais, jornais da época (que não são abordados no livro) acusam a estreia de Tesourinha como um marco histórico, o fim de um preconceito de 50 anos vigente no clube. Aliás, cabe aqui uma ressalva acerca do uso de jornais: eles também não são detentores da verdade, produzem discurso com base em diferentes variáveis, como a ideologia dos proprietários, interesses econômicos, políticos, entre outros. Pra mim, a questão dos primeiros jogadores negros do Grêmio permanece ao menos aberta à discussão. Requer uma análise mais apurada, que cruze outras bibliografias e fontes históricas.

O historiador (ou qualquer um que se sujeite a construir uma história) está fadado à arbitrariedade. Escolhe qual fonte vai trabalhar, qual vai deixar de fora, como vai produzir o texto. Seria inocente pensar o contrário. Acontece que em Somos Azuis, Pretos e Brancos a arbitrariedade soa gritante, demonstra-se escancarada a cada parágrafo, revelada em contextos mal explicados ou sequer mencionados. No capítulo chamado “Prejuízos do Marketing”, Gerchmann discorre sobre um período de crise no Grêmio, onde se cunhou a “cruel e indevida caracterização de elitismo”.
Os anos 40, de fato, não foram fáceis para o clube. O rival Internacional empilhava campeonatos gaúchos com o time que ficou conhecido por Rolo Compressor e que contava com jogadores negros no elenco. A abertura do Grêmio era quase que uma necessidade para interromper a hegemonia colorada. Para o autor, este episódio de crise foi meramente socioeconômico, longe de qualquer questão racial. Um período em que, para se reerguer, o clube foi atrás da sua “essência”.
Mas afinal, o que seria “voltar à essência”? Este período turbulento só é retomado posteriormente por Gerchmann no capítulo “Preconceito? Algo a ser combatido por todos”, um espaço onde procura (com muita resistência) reconhecer notórios episódios racistas na instituição.
Nos anos 40, se destaca uma figura no clube chamada Aurelio Py, antigo presidente do Grêmio e conselheiro à época. O livro reproduz na íntegra o discurso de posse de Py, chamado “O credo do bom gremista”, que em algum momento diz: “Creio no Grêmio porque, trabalhando pelo aprimoramento da raça, colabora na formação de uma raça eugênica para o nosso futuro.” Gerchmann faz uma citação interessante aqui, explicando a eugenia através de Francis Galton, que seria “o estudo dos agentes sob o controle social que podem melhorar ou empobrecer as qualidades raciais das futuras gerações seja física ou mentalmente.”
O que chama a atenção é a conclusão tomada pelo autor, que a partir desta definição conclui que a eugenia citada por Aurelio Py seria a recuperação da alma gremista vitoriosa, e não uma referência à raça no sentido biológico. Como escrevi anteriormente, tal capítulo propõe-se a reconhecer erros, ainda que seja extremamente resistente. Isso porque todo e qualquer evento citado precede ou antecede da palavra “ato isolado” ou “episódio menor”.

Problemático tanto no uso de fontes como nas interpretações, vejo a narrativa do livro como outro ponto a ser debatido. São constantes os malabarismos retóricos para desvincular o Grêmio de qualquer origem elitista e segregacionista e acabar com a imagem de “bom moço” do Internacional. A escrita fala por si só, com palavras escolhidas minuciosamente, principalmente quando Gerchmann discorre sobre os primórdios do Grêmio e sua relação com a família Mostardeiro (que vendeu terrenos para o clube e foi sócia da instituição).
Fica notório em passagens como “Mostardeiro e Dona Laura eram um casal de origem humilde que fez fortuna com muito trabalho e tino empreendedor”. Conta também que Dona Laura promovia festas para trabalhadores, muitos deles ex-escravos e que lá se liam poesias socialistas. Fatos alheios à história do Grêmio mas que transmitem uma ideia, ainda que inconsciente, de aproximação popular do clube no seu início. Quanto à atribuição do Internacional à uma origem elitista, faço questão de reproduzir as palavras de Gerchmann:
“Antes de entrar no segundo motivo para a adoção do nome Internacional pelo rival do Grêmio, quero contar um pouco mais sobre esse Internacional de São Paulo. Vejam bem como o mundo dá voltas. Em 1933, em dificuldades financeiras (como o nosso Internacional também viveu por aqui em razão da crise de 1929, o Internacional paulista, cujo uniforme era igual ao do Milan ou do Atlético Paranaense (listras vermelhas e pretas na vertical), fundiu-se ao Antarctica Futebol Clube. Juntos, originaram o Clube Atlético Paulista, que, por sua vez, em 1937, uniu-se ao Estudantes. Daí, saiu o Estudantes-Paulista, que, em 1938, foi incorporado ao São Paulo FC. Sim, o São Paulo Futebol Clube! O Internacional de São Paulo, um dos inspiradores do nome que acabou sendo adotado pelo homônimo de Porto Alegre, é uma das vertentes do São Paulo, o clube paulista tido como mais elitizado, como sede no luxuoso bairro Morumbi, na capital paulista. Que coisa!”
A ideia é simples mas trabalhosa: busca associar, através do Inter de São Paulo (clube onde jogavam os irmãos Poppe, fundadores do Inter de Porto Alegre) e suas diversas uniões e fundições, uma ligação entre luxo, elitismo e o Internacional. Um malabarismo trabalhoso.
História x Memória

Enfim, poderia discorrer tantas outras linhas sobre as diversas passagens contidas em Somos Azuis, Pretos e Brancos. Porém, detenho-me aqui à uma conclusão: tal livro deve ser encarado como um produtor de memória, não de história.
Reproduzo aqui outro trecho do livro “Pesquisa Histórica e História do Esporte” (2013), que melhor elucida essa diferença: “Nesse ponto diferenciam-se os trabalhos do que Marieta de Morais Ferreira (2002) definiu como “historiadores” e “produtores de memória” (history makers). O segundo grupo seria composto por autores que produzem trabalhos sem se ater aos cuidados metodológicos; esses acabam por considerar suas fontes como se fosse um retrato fiel do que ocorreu no passado. Ao utilizarem relatos orais, reproduzem discursos de memória como história, apresentando assim um ponto de vista particular do ocorrido como um estudo crítico do passado.”
Memória e História não são sinônimos, mesmo que conversem entre si. A História precisa, enquanto ciência, ser crítica, suportada por metodologias. Ser carrasca com as fontes, ir à exaustão com perguntas aos documentos. A memória, esta sim, permite a subjetividade, a parcialidade, a reformulação do passado condicionado pelo presente. Se aproxima-se do tipo de conteúdo apresentado por Gerchmann: uma obra importante, sim, que traz à luz uma discussão de extrema relevância, mas que soa oportuna, visto o contexto de sua publicação. O tema é caro e tanto Grêmio quanto Internacional precisam de suas histórias passadas a limpo, para além das fontes institucionais. Precisam da história, não da memória. Memória os milhões de aficionados produzem diária e incansavelmente.
Se no inverno de 2015 quase fui convencido pelo texto do Gerchmann, três anos depois, Somos Azuis, Pretos e Brancos me causa inquietação. Ainda há muita coisa a ser investigada. Há muita conduta a ser revista nos dias atuais para que não voltamos às crises dos anos 40. Que continuemos a tentar descobrir nossas cores, sobretudo, com rigor.
Referências Bibliográficas:
ALBERTI, Verena. Manual de História Oral. 3ª Ed. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2007
ENDLER, Sergio. Tesourinha.1ª Ed. Porto Alegre: Editora Tchê!, 1984.
GERCHMANN, Leo. Somos Azuis, Pretos e Brancos. 1ª Ed. Porto Alegre: L&PM Editores, 2015
MELO, V. A. et al. Pesquisa Histórica e História do Esporte. 1ª Ed. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2013