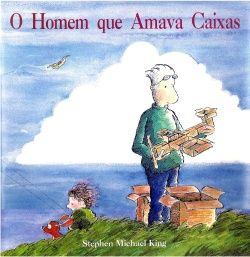Sabe-se que as grandes obras costumam girar sobre três temas básicos: o amor, a morte e deus. O cinema adora o amor, até porque é mais leve do que fazer filmes sobre o silêncio de deus e poucos além de Bergman sabem falar da morte. Porém, os dois filmes que escolhi também falam sobre a morte.
As Pontes de Madison é narrado através das cartas de uma mãe recém falecida, Francesca Johnson (Meryl Streep), e esta fala sobre outra morte, a do fotógrafo da National Geographic Robert Kincaid (Clint Eastwood). Em Encontros e Desencontros — incrível tradução de Lost in Translation — fica tão clara a diferença de idade entre os personagens de Scarlett Johansson e Bill Murray, que só podemos pensar: ela é muito jovem e tem a vida pela frente, ele tem muito menos tempo. Bem, de qualquer modo, a morte está em quase toda manifestação humana.
 Lost in Translation (2003) é o segundo filme de Sofia Coppola. Bill Murray faz um ator de meia-idade que se encontra em Tóquio para uma campanha publicitária. É casado e desanimado, inclusive com seu casamento. Ele se sente oprimido com a rotina sem sentido de sua vida. No hotel, onde está hospedado sozinho, conhece Charlotte (Scarlett Johansson), uma jovem recém casada que aguarda o marido que está trabalhando por alguns dias noutras cidades do Japão. Há nele enorme entusiasmo profissional, mas quase nenhum por sua jovem mulher que é deixada a esperar. Ambos estão desconectados de seus parceiros e, juntos, começam a repartir horas que não passam enquanto se estabelece uma relação de compreensão mútua. O caso não vai adiante neste excepcional roteiro da própria diretora, filha de Francis Ford Coppola, autor de outro clássico deste cinema de momentos apenas respirados, A Conversação (1974).
Lost in Translation (2003) é o segundo filme de Sofia Coppola. Bill Murray faz um ator de meia-idade que se encontra em Tóquio para uma campanha publicitária. É casado e desanimado, inclusive com seu casamento. Ele se sente oprimido com a rotina sem sentido de sua vida. No hotel, onde está hospedado sozinho, conhece Charlotte (Scarlett Johansson), uma jovem recém casada que aguarda o marido que está trabalhando por alguns dias noutras cidades do Japão. Há nele enorme entusiasmo profissional, mas quase nenhum por sua jovem mulher que é deixada a esperar. Ambos estão desconectados de seus parceiros e, juntos, começam a repartir horas que não passam enquanto se estabelece uma relação de compreensão mútua. O caso não vai adiante neste excepcional roteiro da própria diretora, filha de Francis Ford Coppola, autor de outro clássico deste cinema de momentos apenas respirados, A Conversação (1974).
Já As Pontes de Madison (The Bridges of Madison County, 1995) tem origem num livro bastante fraco de Robert James Waller. Eu o li. Alfred Hitchcock já ensinava que não se deveria pegar obras-primas literárias para passá-las ao cinema. Ao natural, dizia o gordo, as obras mas fracas são as que mais se prestam à conversão, talvez porque seja mais simples criar significados onde não há e é inviável imitar ou alterar o significado de obras densas. A história é simplíssima. Conta a história de Francesca (Meryl Streep) uma mulher casada que se envolve com um fotógrafo da revista National Geographic que, numa tarde indolente, chega a Madison, em Iowa, a fim de registrar imagens das famosas pontes cobertas. O marido e filhos de Francesca, que vive num sitio, estão ausentes devido a algum evento rural, como uma exposição de animais. A história é contada em flashbacks. Após a morte de Francesca, seus filhos descobrem um manuscrito que revela esta passagem de sua vida.
 São obras de climas com vários pontos em comum, apesar de se passarem em ambientes diversos. A ação de Pontes de Madison ocorre no campo, em Madison County, para onde se dirigiu o fotógrafo Robert Kincaid (Clint Eastwood). Lost in Translation se passa no Japão, num hotel no centro da metrópole. E aqui cessam as grandes diferenças do quarteto ou quinteto: dois homens são fotógrafos, profissão que já pressupõe despojamento e viagens. Três são casados — só Kincaid-Eastwood não é — e três parecem estar decididamente à deriva pelo mundo — só Francesca-Streep está firmemente em casa. Porém, todos eles, casados ou bandoleiros, estão sentimentalmente à deriva e parecem encontrar amor ou o consolo em apenas um encontro efêmero.
São obras de climas com vários pontos em comum, apesar de se passarem em ambientes diversos. A ação de Pontes de Madison ocorre no campo, em Madison County, para onde se dirigiu o fotógrafo Robert Kincaid (Clint Eastwood). Lost in Translation se passa no Japão, num hotel no centro da metrópole. E aqui cessam as grandes diferenças do quarteto ou quinteto: dois homens são fotógrafos, profissão que já pressupõe despojamento e viagens. Três são casados — só Kincaid-Eastwood não é — e três parecem estar decididamente à deriva pelo mundo — só Francesca-Streep está firmemente em casa. Porém, todos eles, casados ou bandoleiros, estão sentimentalmente à deriva e parecem encontrar amor ou o consolo em apenas um encontro efêmero.
Em verdade, sob o amor, há o tema da insatisfação. Nem o bobinho marido workaholic de Scarlett no filme de Sofia Coppola parece feliz. Estão todos insatisfeitos; se Francesca, Robert e Bob Harris (Bill Murray) passaram e passarão suas vidas neste estado, a Charlotte de Johansson fica paralisada no meio da rua, enquanto Brian Ferry canta More than this, there is nothing.