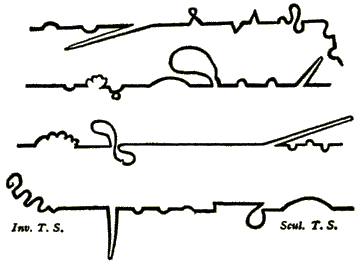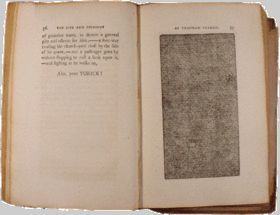Acabo de receber um comentário e um e-mail dando conta de mais esta manifestação sobre a crise na Secretaria de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul, hoje sob a irresponsabilidade da especialista Mônica Leal. Aqui, o site do SATED/RS.
A Lei de Incentivo à Cultura, nº 10.846/96 – LIC – foi criada para abrigar, financiar e fomentar, com recursos públicos, diversos segmentos da produção cultural independente. Um mecanismo de financiamento à Cultura, tão importante e necessário, no entanto, sempre funcionou com uma administração frágil, desaparelhada de recursos humanos e materiais e submetida ao caráter e aos objetivos personalistas e injunções políticas e partidárias de seus gestores. Que insistem numa tentativa de domesticar instâncias representativas gerando um uso e interpretações diferentes entre órgãos de Estado e de Governo, neste caso o Conselho Estadual de Cultura – CEC/RS e a Secretaria de Cultura – SEDAC, onde o primeiro não quer e nem deve ser subserviente ao segundo.
E agora, chegamos ao seu momento mais crítico e agudo, onde a falta de mecanismos de fiscalização, o descontrole na tomada de contas dos projetos –, que resultou num passivo de centenas de processos esperando na fila do Setor de Tomadas de Contas – da LIC, levam o Sistema a sua quase total paralisação.
Apesar da criação destes bem-vindos e modernos mecanismos de gestão compartilhada, os gestores e legisladores esqueceram o principal: a Lei não funcionaria se, a par de todos os instrumentos de financiamentos públicos às atividades culturais, não houvesse um suporte com medidas encadeadas por uma série de ações administrativas, as quais, necessariamente, devem acompanhar a execução de qualquer Política Pública, principalmente na área da Cultura, como por exemplo: a implantação de um robusto e bem estruturado sistema, que agregasse outras ferramentas de apoio e fomento aos produtores culturais servindo de estímulo e qualificação; orçamento compatível, possibilitando habilitar o Estado às condições necessárias que viabilizasse a máquina administrativa dos órgãos de apoio; que lograsse financiá-los com recursos orçamentários, qualificando-os com os investimentos necessários para ampliar a base de serviços à população e a comunidade cultural e com os instrumentos competentes para prover os aparelhos de Estado já constituídos, das condições próprias de manutenção, entre outros.
Mas, ao contrário de nossas expectativas, vimos os orçamentos da Cultura minguar a cada ano; o surgimento de dezenas de associações culturais, empresas de marketing, consultorias, etc., cujo objetivo principal era aceder aos recursos da LIC para financiar projetos e eventos de interesse dos próprios governos; o desmanche dos aparelhos culturais da capital e o abandono daqueles poucos existentes no interior e; o congelamento dos recursos destinados à LIC, que desde 1998, destina o mesmo valor aos projetos culturais financiados pela Lei, contrariando reiteradamente o princípio legal de observância do percentual ali estabelecido!
Não demorou a que os recursos oriundos do Incentivo Fiscal, concedidos aos projetos dos próprios governos, chegassem a consumir metade dos valores disponíveis ao apoio da produção independente de cultura. E lá estavam os produtores culturais a disputar com as intermináveis associações de amigos e prefeituras municipais, os restritos recursos disponíveis, numa clara demonstração de concorrência desleal.
Isso sem contar os inúmeros ataques e ameaças à sua sobrevivência, enfrentadas pela Lei, nas sucessivas mudanças de governo, através das intermináveis edições de Instruções Normativas, sem força de lei, alterando constantemente as regras para apresentação, financiamento e tomada de contas aos projetos incentivados. Criou-se um cipoal de normas contraditórias entre si que, agora se vê, escancararam as portas para fraudes e irregularidades.
O resultado aí está e não poderia ser outro: falsificações de assinatura, desvios de objetivos dos projetos, relatório de contas com notas frias, corrupção entre os agentes culturais, órgãos de governo e de Estado, produtores e empresas patrocinadoras; descredenciamento sem critérios claros de 3000 produtores culturais e a conseqüente ameaça ao funcionamento do Sistema.
No calor da crise, a Casa Civil do atual Governo anunciou um Grupo de Trabalho formado por órgãos de Governo, de Estado e da sociedade civil. No entanto, tal representação jamais se reuniu e, ao invés disso, o Governo encaminha, agora, à Assembléia Legislativa, sem haver tido diálogo algum com a classe cultural, projeto de lei para modificar o texto legal da LIC. O resultado que se espera não é mais do que um conteúdo de intuito repressor que pouco ou nada auxilie nas pesadas fráguas advindas da crise no Sistema LIC e que, tampouco, aporte soluções para a falta de políticas públicas de cultura que afeta o setor!
E, para nosso cabal estarrecimento, temos que conviver com a constrangedora realidade de que os recursos previstos para investimentos da Secretaria da Cultura são de apenas R$ 130 mil, em 2009, o menor entre todas as Secretarias de Estado. E para o Fundo de Apoio à Cultura (FAC) a destinação de escandalosos R$ 15 mil!
É chegada à hora da classe cultural e artística do RS deixar claro quais são os interesses que estão em risco com a deflagração de um desmonte na Cultura do RS, que é ao mesmo tempo, institucional e de gestão, e que tem como saldo, prejuízos irrecuperáveis ao conjunto da sociedade gaúcha.
Neste sentido, vimos a público exigir das autoridades gestoras e legisladoras a tomada imediata de ações que garantam a continuidade da produção cultural do Rio Grande do Sul, defendendo como indispensáveis as seguinte medidas a serem tomadas em caráter de emergência:
– Apuração imediata dos responsáveis pelas irregularidades e a correição de atos solidários às fraudes, praticados pela autoridade gestora;
– Implantação e dotação orçamentária robusta ao Fundo de Apoio à Cultura, com recursos próprios do Orçamento e sua imediata implantação;
– Fim do acesso a projetos e eventos de interesse dos Governos aos recursos públicos financiadores de iniciativas culturais, realizados através da Lei de Incentivo à Cultura;
– Discussão ampla e democrática sobre a criação de novas ferramentas fomentadoras da produção cultural independente;
– Dotação orçamentária própria para o financiamento de projetos e eventos de interesse governamental;
– Implantação de fundo orçamentário para o apoio ao financiamento das Políticas Públicas de Cultura no âmbito dos municípios;
– Revisão e atualização do texto legal da Lei 10.846/96, que atenda ao conjunto de interesses e diversidades dos agentes culturais por ela beneficiados;
– Inclusão, no seu Decreto Regulamentador, de regras que substituam, de forma definitiva, o manancial de Instruções Normativas, pondo fim ao tumulto institucional causado pelo excesso de instrumentos regulamentadores sem força de Lei;
– Aporte de 1% do orçamento total do Estado para financiar a estrutura governamental ligada à Cultura, gestão e manutenção dos equipamentos culturais e implantação de políticas públicas de fomento às atividades ligadas ao setor, conforme determinado pela UNESCO, em convenção internacional e;
– A nomeação, em caráter de urgência, de novo titular na SEDAC, dando à Cultura do Estado a oportunidade de ter uma política cultural pública forte e comandada por autoridade com conhecimento profundo e experiência na área, e a retomada imediata do diálogo entre Governo e Comunidade Cultural;
SATED/RS ASGADAN, FÓRUM PONTOS DE CULTURA/RS, FÓRUM PERMANENTE DE MÚSICA/RS, FÓRUM PERMANENTE DE ECONOMIA DA CULTURA, AGTB, ESCOLA DE SAMBA ACADÊMICOS DA ORGIA, ESCOLA DE SAMBA FILHOS DA CANDINHA, AXÊ ARTE E CIDADANIA, SOCIEDADE CULTURAL FLORESTA AURORA, CIRCULO DE PRODUÇÃO CULTURAL.
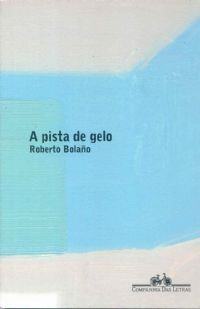 Este é o primeiro romance do Bolaño, publicado em 1993. Se A pista de gelo ainda não apresenta a furiosa polifonia dos livros seguintes, já temos três narradores alternando-se para contar uma falsa história detetivesca. O livro poderia também chamar-se “Era para ser um whodunit…”. Não digo isso por achar que A pista de gelo seja um fracasso como livro policial — não se trata de um fracasso, longe disso –, mas para reforçar o tom de paródia que o romance mantém por trás de sua originalidade. Ou seja, ele não quer ser um whodunit.
Este é o primeiro romance do Bolaño, publicado em 1993. Se A pista de gelo ainda não apresenta a furiosa polifonia dos livros seguintes, já temos três narradores alternando-se para contar uma falsa história detetivesca. O livro poderia também chamar-se “Era para ser um whodunit…”. Não digo isso por achar que A pista de gelo seja um fracasso como livro policial — não se trata de um fracasso, longe disso –, mas para reforçar o tom de paródia que o romance mantém por trás de sua originalidade. Ou seja, ele não quer ser um whodunit.