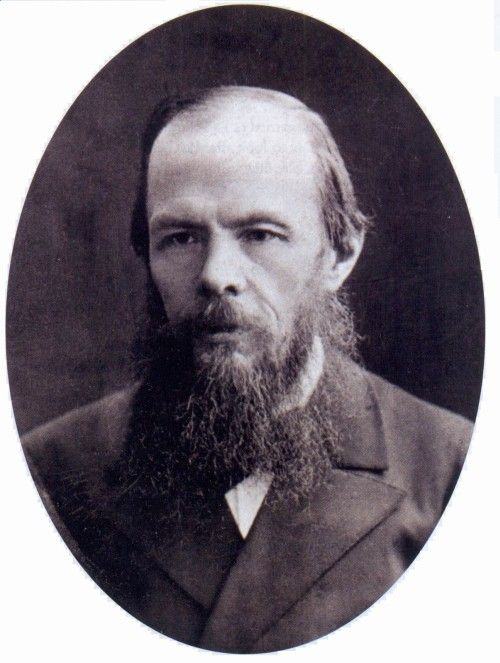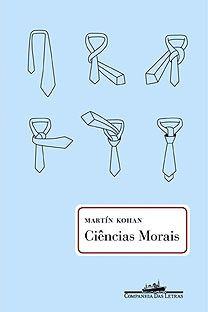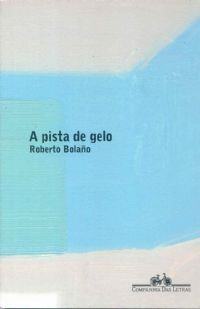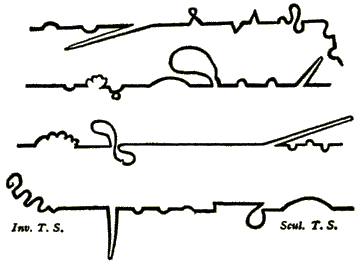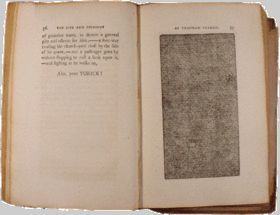Publicado em 28 de outubro de 2004
Alexandre envolvia-se com drogas desde os tempos do segundo grau. Quando tinha 16 anos, levava uma vida tranqüila com seus pais. Não precisava trabalhar nem estudar muito e usava seu tempo livre no cinema e com os amigos. Dinheiro não era uma grande preocupação até que começou a experimentar drogas. Estas eram fáceis de conseguir e acessíveis, mas trouxeram outros amigos, festas, bebida e ele precisou de meios para financiar o novo estilo de vida. Para não levantar suspeitas, decidiu não pedir dinheiro à mãe.
Lia era uma respeitável e emotiva senhora de 75 anos e há 16 vivia com Belle, uma cachorrinha da raça cocker. Lia tivera cinco filhos que a visitavam raramente, enquanto Belle nunca tivera uma ninhada, pois sempre vivera no pequeno apartamento com sua dona. Quem as conhecia, sabia que se amavam. Belle seguia Lia onde quer que fosse, enroscava-se em suas pernas, pedia colo e, devido à pouca mobilidade de sua dona, engordava. Comiam da mesma comida, deitavam-se no mesmo sofá e na mesma cama; enfim, faziam companhia constante uma à outra. Lia conversava com Belle, reclamava das dores da idade, da ausência dos filhos, das fofocas dos vizinhos, dos preços da farmácia e do supermercado. Belle, com o olhar triste e sonolento dos de sua raça, acompanhava tudo compreensiva e passivamente.
Alexandre passou a dedicar-se a pequenos roubos num ambiente que conhecia bem: o do ônibus. Ali, nos horários de maior movimento, explorava as bolsas das mulheres. Poucas vezes foi flagrado em ação e, quando acontecia, reagia dizendo que a bolsa estava aberta, que a mulher era louca, etc. Roubava normalmente os trocados da passagem.
Numa madrugada gelada, Lia foi ao banheiro (ia muitas vezes durante a noite) e verificou não ter sido acompanhada por Belle. Ao voltar, foi olhar sua cachorra ao lado da cama. Belle estava tranqüila, de olhos abertos e morta.
Nos últimos dias, Alexandre passou a achar que seus ganhos nos ônibus eram insuficientes se comparados com os riscos envolvidos. Sonhava com um lance maior, mas como conseguir isto dentro de um local freqüentado somente por pés-rapados como ele?
A perda fez Lia sofrer como nunca. Não sofrera tanto nem quando seu marido falecera após longa doença. Dependia daquele amor, como Belle dependia dela para comer e permanecer limpa, sem pulgas e perfumada. Porém, Lia não desejava ser ridicularizada por amar tanto a um cão. Prezava a discrição. Assim, passou dois dias fechada em casa choramingando e se perguntando sobre o que seria de sua vida sem sua querida. Quando um de seus filhos lhe telefonou, procurou esconder o luto que lhe embargava a voz. O filho nada notou; ademais, não queria saber de nenhum problema que o fizesse perder tempo. Tudo o que queria era que sua mãe estivesse bem de saúde e longe.
Alexandre resolveu tentar a sorte num bairro longínquo. Escolheu Petrópolis, um local cheio de velhinhas de bom poder aquisitivo.
No terceiro dia, Lia concluiu que teria de fazer alguma coisa com o corpo de sua companheira. Fez-lhe um lindo pacote e finalmente saiu de casa com Belle. Era difícil carregá-la, a cachorra era pesada e ela precisava pegar um ônibus para ir ao hospital veterinário. Com esforço e dignidade, chegou à parada. Mesmo sob a baixa temperatura, suava. Vestia casacão, blusão de lã, camisa de algodão grosso e camiseta. Subiu equilibrando-se no coletivo e conseguiu um lugar para sentar-se e descansar um pouco.
Alexandre encontrou sua vítima numa senhora que parecia carregar um tesouro consigo. O que haveria ali dentro? Era uma caixa retangular, parecia um pequeno baú e estava enrolado em belo pano bordado. Pensou em alguma peça antiga, bastante valiosa e fácil de vender; ou talvez num aparelho eletrônico que ela estivesse levando para uma amiga ou neto.
O ônibus foi ficando cheio e Lia levantou-se a fim de chegar perto da saída. Na porta, havia um jovem bem apessoado que lhe inspirou imediata simpatia; ele se oferecera para segurar o fardo. Lia aceitou. Com o olhar úmido, confidenciou-lhe que naquele volume havia algo de muito importante, tudo o que lhe restava neste mundo. O olhar risonho do menino pareceu-lhe consolador e Lia sentiu-se invadida por doce ternura. Então a porta abriu-se e Alexandre saiu correndo, carregando as melhores lembranças de Lia.
Ela foi até o fim da linha e voltou para casa no mesmo ônibus. No caminho, pensava no menino, no roubo e na surpresa que ele teria ao abrir o embrulho. Quando lembrava, não conseguia evitar um sorriso. Enquanto isto, Alexandre, no banheiro do colégio, deparava-se com Belle. Após o horror inicial, deixara o cão ali mesmo e concluíra:
– Não adianta! Acho que o negócio é seqüestrar alguém.