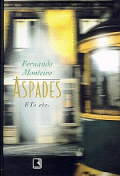A última Rascunho toca fundo em problemas da cultura brasileira. Fala sem rodeios sobre a ruindade e o comodismo da produção literária brasileira atual. Os dois articulistas — Nelson de Oliveira e Fernando Monteiro — agem diferentemente. Nelson parece não desejar muita confusão com a nova geração e a exime ao final do artigo, enquanto Fernando não recua ao habitual compadrio que rege as relações entre os escritores, aquele desagradável “eu te elogio e tu me elogias”. Trata-se de dois artigos longos onde, apesar da articulação de ambos, a melhor analogia é a linha reta que vai direto ao ponto, passando por cima de quem está no caminho. Ou uma patrola. Só que Nelson opta por uma curva no último momento. Tal pauta apenas demonstra que a Rascunho não tem o objetivo de fazer coro às bem-humoradas e sorridentes vozes de nossa literatura, quer a dissonância e, puxa, algum desconforto e novidade.
Menos amplo e mais benigno, Nelson de Oliveira escolhe um belo ponto de partida ao dizer que a história da literatura brasileira sempre mostrou conflitos entre o velho e o novo que o substituiria. Segundo ele, tal enfrentamento apenas retornou recentemente. De certa forma, Nelson é otimista, porém não creio que ele se arriscasse deste modo num meio menos efêmero que o da revista ou jornal. Ele recua até os anos 20 e de lá vem, comprovando facilmente sua tese. Fala no conforto e na cautela de nosso tempo, mas acaba por dizer que nunca houve tantas boas estreias como no século XXI. Os anos 90, iniciados por Fernando Collor, teriam sido os mais podres de todos os tempos no Brasil. Não vou entrar em cada argumento e exemplo que Nelson utiliza, mas discordo de alguns “bons autores” citados por ele. Nelson não chega ao absurdo de elogiar Marcelino Freire, por exemplo, ficando em nomes mais aceitáveis, mas escorrega e cai feio ao dizer que tais escritores escrevem para uma elite intelectual da qual fariam parte ele, eu e você, querido leitor. Acho, inclusive, que o termo “elite intelectual” é muito discutível. Estranhamente, o título do artigo é “Entre o perigo e o conforto”.
Entre os autores elogiados por Nelson estão alguns de que gosto, mas que também não são all that literature: Michel Melamed, João Paulo Cuenca, Veronica Stigger, Wir Caetano e Daniel Galera.
Já Fernando Monteiro comemora seus 60 anos no ataque. Seu artigo Acho justo que essa sociedade tenha a arte que merece me parece bem mais realista. Fernando também inicia seu artigo em ritmo adagio, falando sobre poesia e elogiando, entre outros, o site de poesia Sibila, publicações que efetivamente estão à margem, despreocupadas com um mercado que lhe virou as costas há muito tempo. A mim, interessa mais a análise da produção em prosa e aqui Fernando anuncia que perderá a finesse. E perde mesmo, apesar da nobreza do motivo. Porque a prosa está verdadeiramente regida pelo mercado e por seus escritores performáticos. Fernando critica acidamente 4 escritores que, em minha opinião, poderiam ser divididos assim: o performático Marcelino Freire, o neoperformático Fabrício Carpinejar (talvez um desistente da qualidade), o fraquíssimo Xico Sá — autor de uma nova linguagem de rua que é apenas uma boa ideia, não encontrando nenhuma literatura em seus becos sem saída — e, bem, Chico Buarque e seus treinamentos públicos.
Os dois artigos, na minha opinião, tocam fundo na questão primordial que causa todo este marasmo: as editoras e sua insistência na criação do sucesso imediato. Os mecanismos de promoção tornaram o ato público — a entrevista, a postura, a imagem, a maluquice-beleza, a excentricidade — mais importantes do que a redação, a concordância e as boas histórias. São escritores que repetem os modelos do passado. Não há sinais de um Juan José Saer — argentino, renomado professor universário radicado em Paris, um conhecedor de sua arte e da de outros –, de um Roberto Bolaño — chileno que literalmente morreu escrevendo, não que eu queira que alguém morra pela arte, por favor… –, de um Tomás Eloy Martínez!, para ficar apenas nos exemplos latino-americanos de Monteiro. Por favor, basta ver a história destes homens para se pensar que, talvez, gente séria NÃO ESCREVA no Brasil, salvo raras exceções.
E o pior é achar que eles têm razão.
Atualização das 14h15. Como o Marcos Nunes fez um comentário melhor do que o post, aqui está ele:
Volto então a Nelson Rodrigues: acho isso tudo um puta complexo de vira latas, uma herança autodepreciativa lusitana, que gerou a patetice do sebastianismo e, no brasileiro, a certeza de que, como não voltará redivivo Sebastião nenhum, e mesmo se voltasse, só faria arrebentar de vez com o que sobrou do Brasil depois de extintos diamantes e pau brasil, nós estamos fodidos e para sempre, aqui não há arte, sequer algum talento (à parte os que seguem o dito “com engano e arte vivo metade do ano, com engano e arte vivo a outra parte”, sendo a arte só a do engano, sendo o engano nosso estatuto de arte); para comprovar a tese, citamos alguns luminares vizinhos e, principalmente, os menos vizinhos, desancamos nossas editoras, o mercado e, por último e não menos importante, nosso povinho bunda, analfabeto, etc. e tal.
Enfim, todo povo tem a literatura que merece; a que temos tá de bom tamanho.
Conversa fiada.
Além disso, tenho plena certeza que a maioria dos bons autores do país são desconhecidos e até não publicados. Se devemos creditar a alguém nossa carência de bons autores, a princípio é ao “mercado”, esses administradores da indústria cultural, a mídia, que, em tudo que toca, atua como um Midas ao contrário: transforma em merda. Enfim, todo um processo de geração de valores que não deve se opor às ordens constituídas, patrimônios, famas e poderes subtraídos na forma de extração de mais-valia, a tudo transformando em menos-valia, vale-nada, inutilidades confortáveis, vagidos de metafísicos interiores girando em torno de umbigos de gênios da raça.
Não levo a mínima confiança nos “grandes autores” pelo mundo afora; este é um mundo de mediocridades fulgurantes, dependendo do arcabouço publicitário que tá atrás de ti. É como acontece todo ano com o Beaujolais (vinho?), uma bosta de bebida mas que a França exporta para o mundo inteiro como um must, sendo uma fraude. Recebemos aqui umas fraudes e abaixamos nossas cabeças, à vista dos pareceres dos grandes acadêmicos e da crítica mais balizada. O mundo nos chama de periferia, nós acreditamos e nos comportamos como tal, continuando a importar frivolidades e mandar para eles o que é mais substancial, menos nossa literatura, tida por subproduto de uma subcultura. A velha estratégia do mercantilismo se desdobra e se verticaliza: nosso lugar é lá embaixo, e pronto.
Mesmo com todo descaso das editoras, semanalmente são publicados autores brasileiros, não resenhados, não lidos, previamente esquecidos. Nunca saberemos se são bons, razoáveis ou bostejadores. Não os lemos. Eu mesmo não os leio. Tenho uma biblioteca à frente: de 100 livros para ler, uns seis de autores brasileiros. Nada demais, uma vez que o Brasil é só um país, e existem dezenas de outros com seus escritores, suas histórias, suas palavras, a merecer igualmente leitura. Mas a globalização persevera assim: de lá pra cá, muito, no sentido inverso, pouco ou nada.
Aqueles que merecem alguma consideração fazem parte de patotas de nosso mundo corporativo: egressos das mídias, do mundinho acadêmico, compadres, todos circulando no mesmo meio, fazendo fama e deitando na cama uns dos outros. Somos como que obrigados a ler Chico Buarque, por exemplo. De vingança, não lemos mais nada e metemos o pau em todos os outros mesmo assim.
Nas escolas, fingimos formar alunos, mas a má educação que eles recebem, além disso, é direcionada somente para o exercício de uma profissão, mal ou bem remunerada que seja. Com isso, suas leituras não vão além da autoajuda, dos manuais de conduta corporativa, das idéias voltadas para comprar e vender.
Todo esse lamento, no final das contas, é nada indo a lugar nenhum. A literatura no país será melhor produzida e lida quando alcançarmos um nível ao menos médio de desenvolvimento. Somos meia dúzia de pessoas supostamente cultas exigindo dos outros o que não fazemos nós mesmos: boa literatura, boas relações sociais, boa política.
Mesmo assim, insisto: gente, há, o que não há é oportunidade e contingente de leitores que suporte a ascensão de uma produção nacional praticamente submersa. No momento, os poucos que leem o fazem uns para os outros: o resto é o resto, uma maioria cinzenta, indistinta, congestionada pelo subdesenvolvimento, alheia a tudo que não seja a garantia de sobrevivência imediata. Nós os desconhecemos, eles nos desconhecem. É a tônica, uma dicotomia que nos faz utilizar categorias como elite versus povo, nós elite, eles povo, nós não povo, eles não elites.
Nos condenamos, assim, a uma discussão estéril, um método comparativo preparado para nos reduzir a pó, à submissão a critérios tão inconsistentes quanto os nossos, mas de matriz estrangeira, logo superior. O negócio é parar de colocar o rabo entre as pernas, jogar a responsabilidade alhures e sonhar que habitamos um mundo que não nos compreende. Nesse universo, estamos a fazer o papel de manés, mas pagamos por isso e batemos palminha no final, enquanto, reunidos, vaiamos uns aos outros, fazemos alianças efêmeras e ganhamos nosso dia, um depois do outro.
A merda toda é como pular fora da mera constatação. Não refletir só o olhar do outro sobre nós fingindo que é nosso olhar sobre nós mesmos. Vai ver que só com isso já dava para começar alguma coisa.