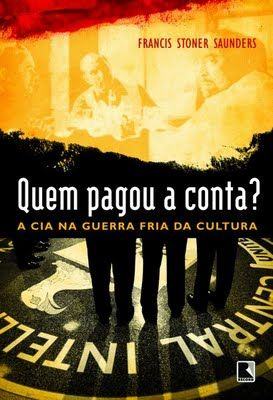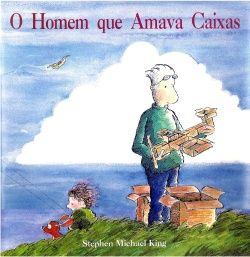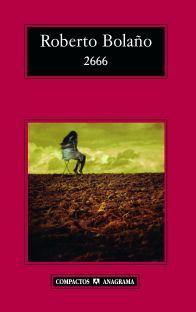Era notório que tinha duas das qualidades mais requeridas para a boa absorção social quando olhava seu reflexo nos espelhos e percebia-se passando incólume ao abrutalhamento das ocupações da sobrevivência diária. Tinha beleza distribuída em seus 1,75m de estatura perfeita, e sorte. Essa última também uma herança da inerente capacidade cavaleiresca de não se preocupar e a adstringência corporal que permitia a seu pai posicionar-se no limiar da porta do cartório de ofícios Hudberg & Sanders, no horário de expediente, diante a constatação muda de todos de que era uma espécie de tributário da perfeição natural para não exigir-se dele a necessidade da inteligência e da eficiência burocrática. Seu avô, Sólemon Hudberg, repudiara a decisão da filha de se casar com um tipo de homem tão inútil, mas seu amor paterno, mais que a corrente versão de manter as aparências, por final aceitara, trazendo o casal com o bebê para uma das propriedades da família, empregando o marido como escrevente de nível um no cartório. Mas sua condescendência não abarcava o neto, direcionado à Faculdade de Medicina; a pequena réplica excessivamente bela daquele intruso aceito com resignação, mostrando que a intervenção do avô o livrava da inutilidade, destinando-lhe às melhores escolas católicas, enfiando-lhe na cabeça o melhor do pensamento de todos os tempos, à medida que se tornava um rapaz brilhante e circunspecto. Seu avô, em toda ocasião, lhe colocava no colo e dizia sem preocupação para quem ouvisse: “Mas como saiu escarrado ao pai, como minha participação nisso não vingou nem no feitio das orelhas.”E contudo, o marido da filha não passava de um lindo animal doméstico; antes da velhice liberá-lo para admitir isso com o alívio do anúncio da tragédia não cumprida, o Sr. Sólemon Hudberg observava apreensivo como seu genro não possuía a menor fimbra de libido, a menor manifestação de lubricidade, como era imune ao erro e à tentação. Era uma beleza desperdiçada. Sua filha parecia saber disso, mantendo-se à altura daquele merecimento, dispensando-lhe um amor tão íntimo, que avizinhava-se em sua proteção à maternidade. Enquanto estava na faculdade de medicina, observava os corpos infundidos no formol, marmorizados numa inacessível salinidade mortuária; retirava-lhes de pesados baldes de ferro do meio de caldos químicos que transfundiam para fora os líquidos que lhes restavam dos tecidos, e os depositavam nas mesas de dissecação. O mestre ria da violência como o odor batia contra as narinas dos alunos, e dizia que iriam se acostumar rapidamente. A ele nunca lhe afligira. O formol retirava a autenticidade dos corpos, aquela representação adulterada da morte. Nas férias de verão soube que seu pai estava internado no Hospital para tratamento. Vê-lo magro,as faces encovadas, os lustrosos cabelos loiros estranhamente ressecados, deitado no leito, além do choque trouxe uma resposta que buscava desde que na infância descobriu se mover numa velocidade menor que a de todo mundo. Ao longo dos próximos meses foi sendo informado da degradação do pai, a forma do detalhe dos relatórios reportado com distanciamento impregnava um certo determinismo sistemático que o isentava da dor. Quando o prognóstico se cumpriu, o diretor honorário lhe dispensou por uma semana com o rosto da mais heráldica condolência, e pode ver a morte em toda sua frescura legítima na inexpugnável condição de matéria do pai, embrulhado em seda branca no hexágono estendido do caixão, com um terno negro de listas de giz que remetia àquele outro que um dia havia sido quase insuportavelmente belo. Teve que se retirar antes do sepultamento, pois incomodava-o enormemente a assimilação que os olhares lhe faziam da figura do pai. Beijou a mãe e o avô, este sinceramente resguardando uma dor que lhe fazia um amálgama por dentro, e saiu. Nunca mais voltou, tampouco para a faculdade de medicina. Pesava-lhe na cabeça a mão do conhecimento de como as providências diárias artificialmente construídas para mostrar segurança subsumiam sobre o fluxo daquilo que meramente determinava a falta absoluta de controle das coisas, sem punição ou glória, sem merecimento ou perda, sem juízos e valores. Sua função era somente existir.
-=-=-=-=-=-
Quem acompanha este blog, sabe: ontem à tarde, nosso comentarista Charlles Campos foi acometido de um severo surto criativo e brindou-nos com a peça literária acima, a qual foi devidamente avaliada por nossa equipe de críticos residentes. Dentro da mais rigorosa sacrofobia, Marcos Nunes sugeriu ao autor experimentar uma prosa com mais alegria erótica, ao menos no padrão Thomas Mann.
Adepto de uma literatura concentrada, que nos leve após tênue resistência (detalhe importantíssimo), ao rico mundo pessoal do autor (parece sexo, né?), Charlles Campos escreveu em resposta duas pecinhas mais relaxadas às quais nomeio com simplicidade:
Zwei Variationen über ein Thema von Charlles Felder
Variatio 1 im Stil von Harold Robbins (dedicada a Victor Hugo Lisboa). A estranha pontuação do autor deve ser resultado da forte influência que Laurence Sterne preserva no interior de Goiás:
1._Filho, venha ligeiro. Teu pai morreu!
2.O aprendiz de médico atravessa em um dia e duas noites as estradas sinuosas entre os alpes suíços, com seu porsche negro, o vento secando as lágrimas de seu belo rosto, tão parecido ao do falecido pai.
3.Diante o cadáver do pai, arrumado com aprumo pelos caros especialistas funerários da Morgue`s Berna Foundation, o jovem médico percebe a grande gratuidade da vida, onde planos de controle de nada valem.
4.Ele pensa com seus botões:
5._Em vez de ser um playboy oportunista, vou me dedicar a apenas viver.
6.Mas, no fundo, nosso herói esperava ao menos encontrar o grande amor de sua vida, sincero e imortal.
7.Diz adeus a seu velho avô, o sábio patriarca da família, beija sua mãe e se manda.”
Final alternativo para o Marcos da alegria erótica:
“_Antes, porém, já que ser abençoado pela abstenção em prol da melhora da humanidade e cagar se reduz à mesma coisa, sendo que a última pelo menos tem a vantagem de poder-se ler a parte cultural da Veja e se deleitar animalescamente com o cheiro da própria bosta, vem cá coroa!
_Mas júnior, isto é um pecado mortal. Teu pai está na sala ao lado, pronto para receber Nosso Senhor. E, além do mais (uh!), eu SOU SUA MÃE!
_ Não seja cínica mulher. Por acaso está acima das máximas deterministas do velho Freud, onde já tá provado que tudo não pas…
_Cala a boca, fedelho, e come essa buceta logo.
A penetração é profunda e selvagem, em que os dois amantes tem que ajustar seus corpos para aproveitarem melhor o gozo proporcionado pelo apoio da pia batismal em que ele a colocara sentada. No momento em que o esperma sai caudaloso, com um grito reprimido para que o padre não fosse ali averiguar, a mãe segura um crucifixo que estava pendurado acima, na parede.
Meu Deuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuus!
O jovem a deixa semi-desmaiada no chão e sai, para se lamentar do grande vazio que é o mundo.
Variatio 2, mit Moral (dedicada a Ramiro Conceição):
O mulato João Tenório, faixa amarela do Clube da Capoeira, bonito que só com sua fileira de dentes geneticamente perfeitos, estava tendo aula de aperfeiçoamento do perigoso passo Salto do Macaco à beira mar de Porto Seguro, ao lado de uma tenda armada pela Rede Globo onde se apresentava o grupo Chiclete com Banana (que na hora cantava o lema incentivador da leitura “lê-lê, lê-lêlê lê lê-ô, lê-lê_lê-lê-ô-ô).
Súbito, Sebastião Remanso, dono da barraquinha de água de côco ali perto, lhe chama a atender o orelhão.
João Tenório cancela o sorriso ao ouvir do outro lado da linha a voz de sua mãe:
_Ô Nego, Ô Tê! Oxum acaba de levar teu pai!
Entre làgrimas, Tê pergunta a causa da desgraça á sua mãe que morava no Rio.
_ Bala perdida, igual a seu irmão ano passado. Vem ligeiro que o IML tá pra liberar teu pai.
João Tenório despede-se de sua mulher e seus treze filhos e embarca no trans-estadual para o Rio.
Diante o cadáver do pai, Tenório não vê sentido continuar na capoeira. Dá um beijo na mãe; beija o avô, aspirando a fumaça de arruda misturada a fumo de corda que sai do cachimbo do velho pai de santo, e se manda.
Anos depois reaparece acompanhado com a nova mulher dançarina, que lhe acolheu à porta na época de fome, famoso como guitarrista principal de uma banda de axé. No último dia dos pais interpretou uma versão de arrepiar no Programa do Gugu, de uma canção do Fábio Júnior.
Moral: tá pra se criar desgraça suficiente pra tornar um brasileiro filósofo.