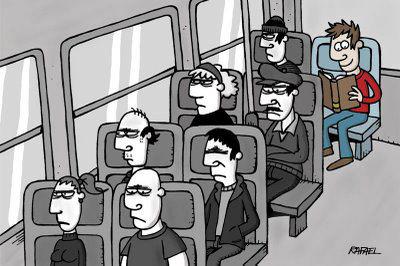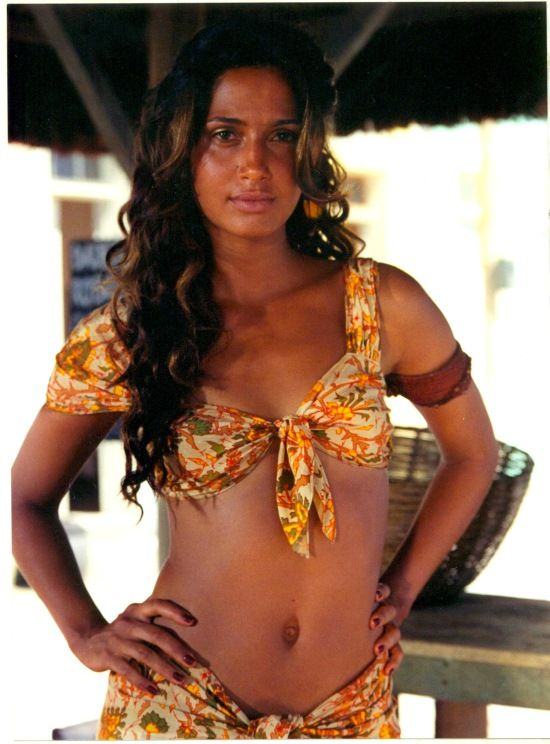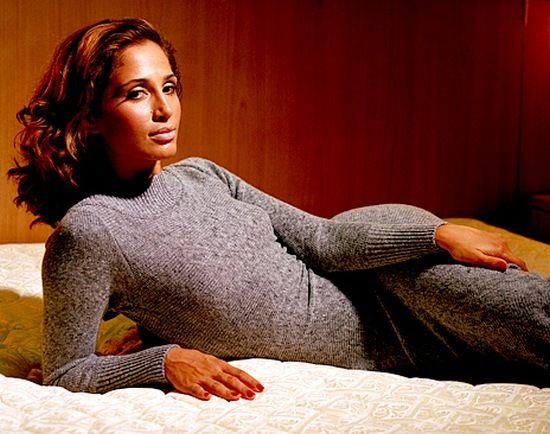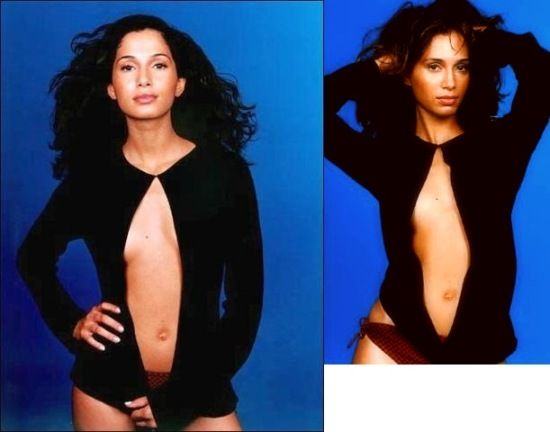Por Martim Vasques da Cunha, na Rascunho.

My wound tires me.
James Joyce, Exiles (Exilados)
Nascido a 2 de fevereiro de 1882 em Dublin, James Joyce sempre foi um jovem inquieto e preocupado com o fato de que a Irlanda o traía constantemente, tratando a nova geração de artistas como “a porca que devora sua prole”. Havia poucas oportunidades: sufocada pela bota inglesa, fossilizada por um catolicismo moralista, a nação era descrita por uma palavra que o próprio não hesitou em colocar na abertura do conto As irmãs: paralisia.
Era a paralisia espiritual do nacionalismo pueril das peças mitológicas de W.B. Yeats e John M. Synge que alegravam o público do Abbey Theatre, ponto de encontro dos intelectuais dublinenses. A mente de Joyce, como o próprio dizia aos colegas, lhe parecia ser mais interessante do que o que acontecia no país. Absorvia o melhor de uma civilização ocidental que a Irlanda se recusava em aceitar; prodígio de intelecto e de arrogância, já criava uma teoria estética que se aproveitava de Dante, Aristóteles e Tomás de Aquino; e ficava absolutamente maníaco quando via um fato inusitado no cotidiano de Dublin, não hesitando em anotá-lo em um caderninho, para depois apelidá-lo carinhosamente de “epifania”. Dirigia-se para um lugar ainda inexplorado e a sociedade onde vivia não percebia o que acontecia nela porque estava viciada nas correntes do provincianismo.
Segundo T.S. Eliot, ser “provinciano” não significa “não possuir a cultura ou o requinte da capital”, muito menos ser “estreito no pensamento, na cultura e no credo”. É algo além — e mais trágico para a cultura de uma nação que se pretenda saudável. Refere-se “também a uma distorção de valores, à exclusão de alguns, ao exagero de outros, que resulta, não de uma falta de ampla circunscrição geográfica, mas da aplicação de padrões adquiridos dentro de uma área restrita, para a totalidade da experiência humana, que confundem o contingente com o essencial, o efêmero com o permanente. (…) É um provincianismo, não de espaço, mas de tempo (…), a propriedade da qual os mortos não partilham. [Sua ameaça] é que podemos todos, todos os povos do mundo, ser provincianos juntos; e aqueles que não estiverem satisfeitos podem apenas tornar-se eremitas”.
Joyce não chegou a se tornar um eremita. Foi além: assumiu a postura do gênio que vai contra qualquer regra da sociedade. Recusou a Igreja, não aceitou o que seus pais lhe ensinaram, muito menos os conselhos dos amigos prudentes. Encaminhava-se para “a completude e a experiência da vida” e não se importava em admitir que havia um abismo separando-o da antiga geração. Sua jornada era tão conscientemente solitária que, ao se encontrar com W.B. Yeats, fez questão de ampliar a lacuna. Conta-se que Joyce respondeu da seguinte forma a Yeats, após os dois terem se encontrado em uma reunião em que os elogios deste não encantaram o primeiro: “Nós nos encontramos tarde demais. O senhor é velho demais para que eu tenha qualquer efeito sobre o senhor”.
Joyce era ainda um escritor em formação; escrevera alguns versos, planejava alguma carreira de cantor ou de ator. Precisava de mais algumas experiências para realizar aquilo que acreditava ser a sua missão: “forjar a consciência incriada da sua raça”. Buscava a compreensão da realidade como uma unidade, como a manifestação de um divino que se imiscuía no cotidiano paralisado de Dublin. Apesar de seu Non serviam em relação à Igreja — atitude com a qual Joyce manteve uma relação ambígua por toda a vida —, é nítida a intenção de se mostrar como um artista que procura um Deus que está além do “grito na rua” em que seus compatriotas o transformaram. E ele sabia que, para forjar a tal consciência, teria de aceitar dois fatos extremos: a compreensão da morte como parte integrante da vida e o reconhecimento da condição humana como perpétuo exílio.
Espírito torturado
Esses fatos seriam o fardo nos ombros de Stephen Dedalus, o anti-herói de Retrato do artista quando jovem, romance autobiográfico que mostra James Joyce exibindo ao mundo o que aprendeu ao aplicar seu espírito às artes desconhecidas. Seu nome é uma união de duas personalidades marcantes do mundo antigo: o primeiro mártir cristão, Estevão, que, conforme nos conta Atos 7:55-60, foi apedrejado pela multidão de Jerusalém ao gritar na rua sobre a ressurreição de Cristo; e o arquiteto Dédalo, criador de construções como o labirinto que aprisionava o Minotauro, e pai de Ícaro, com quem fugiu da sua própria criação ao criar asas de cera, mas viu seu filho morrer afogado no mar por não escutar os conselhos de voar distante do sol.
Joyce não escolheu esses nomes ao acaso. Acreditava realmente que era um mártir e que a literatura era a fuga da paralisia dublinense. A figura de Stephen surgiu na adolescência e foi elaborada, em primeiro lugar, em um romance autobiográfico inacabado, Stephen hero. Ela tinha todas as qualidades e defeitos de Joyce: a petulância, o pedantismo de uma erudição que se preocupa com sua própria mente, a constante intransigência com o país, a família e os amigos. Entretanto, ao transformar Stephen hero em Retrato do artista, Joyce queria aprofundar a objetividade da consciência e, além disso, tornar Stephen mais distante de si próprio — era necessário que se tornasse um personagem e não apenas um alter ego. Retrato do Artista realiza isso com perfeição: o início é um passeio pela consciência infantil do jovem Stephen; conhecemos sua família, sua educação, seus amigos, sempre de forma indireta; pouco a pouco, o estilo se desenvolve para uma exploração de sentimentos e de emoções que se transformam em uma música das sensações. Joyce retrata o crescimento de uma mente que opta pelo exílio dentro do seu país porque a perseguição é a única forma de encontrar um sentido na vida dublinense.
Como o próprio Dédalo, Stephen está preso não só no labirinto onde foi jogado, mas também no que ele próprio criou — onde seu espírito está sendo torturado por pensamentos que não consegue apreender corretamente. Esta é uma observação importante porque sem ela não podemos entender Ulysses, e nos permite corrigir um grande erro que rondou a obra de Joyce: a de que ela seria uma apologia do orgulho satânico.
Sem dúvida, Stephen é um orgulhoso, e falaremos sobre isso adiante; mas é o orgulho patético do jovem que se sente mais importante do que o país onde vive. Não se trata de revolta contra a realidade ou contra Deus. A citação do nome de Stephen ao primeiro mártir cristão prova isso — apesar do Non serviam contra a Igreja que ecoa nos ouvidos. A prisão mental de Dedalus, sua planejada fuga para o exílio em Paris (que ocorre no final de Retrato) e o encontro com sua vocação artística são apenas os primeiros passos para a verdadeira intenção de Joyce, e que se revelam como uma profunda análise do artista maduro sobre o que move a pessoa determinada em criar um novo mundo dentro dos limites do exílio. Stephen sempre se deparará com a prisão da sua alma — que foi criada justamente pelo orgulho da traição.
E o orgulho da traição, se isso for possível, acontece justamente por causa da condição que chamamos de exílio. O poeta russo Joseph Brodsky, um exilado de primeira categoria, escreveu certa vez que o verdadeiro exílio nos ensina três coisas: que a condição humana é um exílio metafísico que nos põe em constante estado de tensão, seja no pensamento ou no espírito; que alguém que vive o exílio sempre será um ser voltado para o passado, para o lugar onde viveu e ao qual não pode mais retornar — como foi o caso do próprio Joyce com Dublin, em que ele dizia que, se a cidade fosse destruída por um incêndio, ela poderia ser reconstruída através de seus livros; que o exílio é, antes de tudo, uma escola de humildade.
Humildade é algo que Stephen Dedalus não possui. Durante todo o Retrato, deixa o orgulho tomar conta de suas atitudes, mesmo quando consegue uma aparente libertação após ter uma epifania em Sandycove, ao ver uma moça à beira da praia e sentir o chamado da literatura. Seu lema de sobrevivência explicita isso quando fala sobre sua ars poetica ao amigo Cranly: a de que ele construirá uma obra fundada no “silêncio, exílio e astúcia” (silence, exile and cunning). O que seria essa astúcia? Justamente a falta de humildade que fará de Stephen um mártir de seus próprios pensamentos e ações. Ou pior: o desejo alucinado de ser traído a qualquer custo, seja pelos próximos ou pelo próprio país. Vai para Paris, mas pede antes uma benção do pai, chamando-o de “velho artífice”; como alguém que gosta de esconder pistas, Joyce sugere que nem o próprio Stephen está certo da sua condição de mártir ou de rebelde. É claro que não estava. O motivo é simples: ninguém suporta ser traído ou viver numa constante suspeita de que será traído. Naquela época, nem Joyce, que cometeu o mesmo erro, sabia se estava pensando ou fazendo a coisa certa. E ele conhecia a razão: tanto Stephen Dedalus como James Joyce voltariam a Dublin para ver a lenta agonia de sua mãe.
Acerto de contas
Para a criação de um novo mundo, é necessário que o artista entre em comunhão com o mundo real onde vive e aceite as suas imperfeições, suas incertezas e, sobretudo, a sua descrença. Este talvez seja o verdadeiro tema de Ulysses, romance que lançou James Joyce ao topo da literatura mundial e que se passa em um único dia, 16 de junho de 1904, o Bloomsday. É uma continuação de Retrato do artista quando jovem porque, logo no início, nos reencontramos com Stephen Dedalus, que voltou de Paris para justamente acompanhar a morte de sua mãe.
Também acompanharemos a peregrinação de Leopold Bloom, vendedor de anúncios de descendência judaica, preocupado com várias coisas, entre elas o funeral de seu amigo Paddy Dignam, o luto mal resolvido por um filho morto prematuramente (Rudy), a sua fixação por uma amante que se comunica somente por correspondência (Martha) e, sobretudo, a possibilidade de que, enquanto anda pelas ruas de Dublin, sua esposa Molly o trai com o garanhão Blazes Boylan.
Por que Joyce escolheu o dia 16 de junho de 1904 para ser a data que marca a ação de seu livro? A razão é singela: neste mesmo dia, o jovem James Augustine Joyce saíra com sua futura companheira, Nora Barnacle, que, como o próprio diria anos depois a ela, “fez dele um homem”. Joyce estava na mesma situação de Stephen Dedalus: atormentado por dúvidas, pela culpa de ter visto a mãe agonizante e por não ter cumprido os últimos desejos dela ao se recusar a proferir a oração dos ritos finais. Além disso, o espectro do fracasso o perseguia: de nada adiantava ser um grande talento se não estava plenamente desenvolvido. O encontro com Nora marcou-o como a possibilidade de entrar em contato com o mundo e deixar para trás a solidão que sentia desde a morte da mãe; e, com isso, Joyce acreditou ter encontrado uma companheira para toda a vida, apesar das observações sarcásticas de seu pai, que afirmava que ela jamais largaria o filho, numa referência nada delicada ao seu sobrenome (Barnacle significa “carrapato”).
Portanto, Ulysses é uma das maiores cartas de amor já escritas. É também o acerto de contas de Joyce com o seu presente e com o seu passado — representados respectivamente por Leopold Bloom e Stephen Dedalus. Ambos se encontrarão nesse dia para que achem uma maneira de dar rumo a suas vidas — para que o sentido das coisas surja como se fosse algo óbvio e os faça ir para frente, nunca para trás. A presença de Nora Barnacle aparece também na figura de Molly Bloom, a esposa de Leopold, uma mulher que nos parece ser uma aranha devoradora, mas, no fim, é quem fará a unidade na existência destes dois homens dilacerados.
O acerto de contas com o passado não se dá apenas na esfera pessoal. Joyce também resolve, em seu romance, o seu próprio lugar na literatura. Para isso, cria uma estrutura romanesca baseada em três pilares: Homero, Dante e Shakespeare. O primeiro é nítido: além do título do romance, cada episódio do livro é inspirado em um canto da Odisséia, épico de Homero que conta o retorno de Ulisses, o famoso guerreiro de Tróia, à sua Ítaca. Dessa forma, Leopold Bloom seria ninguém menos que Ulisses; Stephen Dedalus seria Telêmaco, o filho de Ulisses; e Molly Bloom representaria Penélope, apesar de não ser uma esposa tão fiel assim. Na visão de Joyce, Ulysses não é apenas um romance sobre o exílio, mas um romance sobre a volta para a casa após uma longa temporada no exílio. Bloom e Dedalus são deslocados em Dublin e ambos procuram uma pátria espiritual; o tema da paternidade é recorrente: os dois buscam pais e filhos desaparecidos em suas vidas e descobrem o que procuravam ao se encontrarem quase por acaso. Entretanto, nada em Joyce é por acaso; ele aproxima a mitologia grega do cotidiano dublinense usando os artifícios mais complicados e, ao mesmo tempo, simples da literatura; usa e abusa de paralelismos no tempo e no espaço, criando uma sensação de sincronicidade em eventos aparentemente desconexos; desenvolve o fluxo de consciência não como ferramenta narrativa, mas como um modo de o leitor entrar nos segredos mais íntimos dos personagens; e, sobretudo, registra minuciosamente cada ato, cada hora, cada sensação, cada fala de qualquer personagem que seja importante em sua estrutura porque quer provar, através de seu livro, que o passado pode ser revivido no presente.
O confronto com o passado dentro do presente só será resolvido por meio da influência de Dante. Joyce quis fazer com Ulysses o que o poeta florentino fez com A divina comédia: registrar toda a experiência da civilização ocidental em um único tomo. Daí a referência enciclopédica a obras de literatura, teologia, botânica, história da arte, história universal que estão espalhadas pela narrativa, como se fosse um corpo com vida própria.
Contudo, de nada adianta essa síntese se o homem comum, representado por Leopold Bloom, não consegue se confrontar com o fantasma da morte. No episódio “Hades”, inspirado no canto homérico em que Ulisses desce aos infernos para encontrar com o espectro de seu pai, Joyce descreve a descida de Bloom ao reino subterrâneo. Bloom se dirige com alguns amigos (entre eles, o pai de Stephen, Simon Dedalus) para o funeral de Paddy Dignam, um velho conhecido da boemia dublinense. Todos se lembram da morte de algum colega, de algum ente querido; Bloom se lembra da morte de seu pai, que se matou por envenenamento, e de seu filho Rudy.
Ao ver o caixão de Dignam ser enterrado, conscientiza-se de que seu destino final não é apenas a morte, mas também o esquecimento. Mesmo qualquer espécie de oração não resolve esse problema. “Será que alguém realmente reza?”, ele se pergunta. Bloom sabe que precisa fazer algo para não cair no olvido. Mas o quê? O inferno é muito grande aos olhos de Bloom; existem muitos mortos, muitos a serem esquecidos. E então percebe que, em breve, se não fizer nada, pode ser um deles: “Quantos, meu Deus! Todos estes aqui andaram certa vez por Dublin. Mortos fiéis. Assim como vocês são agora assim certa vez fomos nós”[1]. O maior pecado de Bloom é não fazer algo da sua vida que valha a pena.
O mesmo pode se dizer de Stephen Dedalus. Joyce faz seu alter ego, ocupado por uma mente que elabora os mais complexos teoremas, incapaz de lidar com a vida como ela é, confrontar-se com o espectro de William Shakespeare. É o embate entre a antiga literatura inglesa e a nova literatura — o modo como Stephen encontrou para acordar do pesadelo chamado História. Isso é motivo para uma das cenas mais divertidas de Ulysses, quando Dedalus explica para alguns colegas o que seria sua inusitada teoria de que Shakespeare é, ao mesmo tempo, pai e filho de Hamlet.
O teorema é o seguinte: “Hamlet é Hamlet, o filho morto prematuramente do próprio Shakespeare; Shakespeare é o espectro, o marido ultrajado, o rei deposto; Anne Shakespeare, nascida Hathaway, é a rainha culpada”. Stephen faz uma mistura de pseudo-biografia, fofoca literária e delírio hermenêutico para explicar que as peças de Shakespeare não saíram de uma existência imparcial e distanciada da vida, mas sim de uma experiência traumática no conhecimento de sua própria maldade e da maldade dos outros — no caso, o suposto fato de que o jovem Shakespeare foi abusado sexualmente por sua esposa Anne, 15 anos mais velha. A tese choca os colegas de Stephen. “Mas essa intromissão na vida familiar de um grande homem”, retruca um; para eles, Anne Hathaway foi um detalhe na vida de Shakespeare, uma mulher a quem ele não deu a mínima importância, pois cedeu, em seu testamento, nada mais nada menos que “sua segunda melhor cama”. Um erro, enfim. “Bobagem!, diz Stephen rudemente. Um homem de gênio não comete erros. Seus erros são voluntários e são portais de descoberta.”
Esta apresentação é a forma de Stephen lidar com a obsessão pelo exílio e pela traição. Ele se sente culpado por ter traído sua mãe ao não cumprir seus últimos desejos e sente que foi traído pela Irlanda e por seus amigos. Mas, no fundo, também percebe que algo na sua vida saiu errado — e a culpa é exclusivamente sua. A cena na Biblioteca Nacional mostra exatamente isso. Pouco a pouco, Stephen se sente cercado por seus colegas e, quando menos se espera, se rende à imbecilidade coletiva. O clima de incompreensão e de incomunicabilidade cresce cada vez que Dedalus tenta provar sua teoria.
Stephen está muito fraco espiritualmente — o orgulho da traição já consumiu suas forças. E então vem um dos momentos mais reveladores de Ulysses, quando alguém afirma o seguinte a Dedalus:
— O senhor é uma ilusão — disse sem rodeios John Eglinton a Stephen. — O senhor nos fez percorrer todo esse caminho para nos mostrar um triângulo francês. O senhor acredita em sua própria teoria?
— Não — disse prontamente Stephen.
É neste instante que Joyce se mostra um verdadeiro Dédalo, muito superior ao seu personagem, despistando o leitor, indicando a verdadeira direção para escapar do labirinto que criou. Vários estudiosos deixam esse trecho de lado e afirmam que o próprio Joyce estava brincando com a teoria de Shakespeare. Para René Girard, este é um erro gigantesco[2]. O “não” de Stephen é o que ele fala em voz alta; contudo, algumas linhas depois, saberemos o que verdadeiramente se passa em sua alma:
Eu acredito, Ó Senhor, ajude minha descrença. Isto é, me ajude a crer ou me ajude a descrer? Quem ajuda a crer? Egomen. Quem a descrer? Um outro camarada?
A referência é ao evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 24. Como Joyce não brinca em serviço, é bom lermos o episódio bíblico para percebermos o que ele realmente quis dizer. Trata-se da cura do epiléptico endemoninhado em que o pai deste exclama: “Eu creio! Ajuda a minha incredulidade!” — as mesmas palavras que Stephen diz para si mesmo.
Ele se reconhece como o representante de uma mente tão paralisada quanto a Dublin que criticava. A divagação sobre Shakespeare não é uma brincadeira: é um diagnóstico do problema que atacava não só a Irlanda, mas também a Europa, como veremos em breve. O espírito da época, o zeitgeist, está mudo e surdo; a descrença de Stephen em suas teorias significa que ele também não acredita em si mesmo — o mesmo problema que ronda Leopold Bloom. E o que podem fazer?
A vida fará com que ambos se encontrem no final da tarde, em uma maternidade onde um amigo em comum será pai. Não simpatizam no início; mas, após uma bebedeira (o típico modo irlandês de resolver os problemas) na mesma maternidade, resolvem ir a um bordel. Lá, se deparam com uma vida noturna que desperta os seus maiores pesadelos e suas maiores culpas; Bloom se encontra com o espectro de seu falecido filho, e Dedalus, enfim, enfrenta a sua mãe. O desespero é tamanho que Stephen quebra o candelabro do bordel com sua bengala e provoca uma grande confusão com as prostitutas e a polícia local; será Bloom quem o salvará afirmando ser seu responsável. Juntos, vão embora, rumo à casa de Bloom, na Eccles Street número 7. Estão bêbados, mas descobrem uma comunhão inusitada. Comem uns sanduíches na cozinha e, logo depois, se despedem. Bloom sobe as escadas e se deita na cama, ao lado de sua esposa. E então ocorre o gran finale do livro: o monólogo de Molly Bloom, mais de 40 páginas sem pontuação, dedicado a uma personagem que parecia ser marginal ao enredo, mas é a única que resume a completude da vida ao aceitar tudo com um vertiginoso “sim!”.
O “sim” de Molly é também o “sim” de James Joyce. É ele o Egomen para quem Stephen pede ajuda no seu momento de descrença. Apesar de Molly ser uma adúltera, Joyce coloca na sua boca a fundação de um novo mundo onde a vida é o motor propulsor, nunca a morte. No fim, após uma longa odisséia dentro do exílio, descobre-se que é nele que se encontra a unidade e a completude das coisas. Ulysses pode ser um livro de leitura difícil (e é), mas sua dificuldade esconde as pistas de uma delicadeza humana inegável. O encontro entre Stephen Dedalus, Leopold e Molly Bloom é a prova de que, antes de tudo, para não cairmos no esquecimento, temos de ter consciência do nosso próprio valor. Sem isso, não temos como empreender nossa missão, seja como o casal Bloom, para recuperar um matrimônio perdido, ou como o jovem Stephen que, após o dia 16 de junho de 1904, se transformará em James Joyce e tirará do exílio a lição necessária para escrever Ulysses.
Em guerra
Contudo, este mesmo exílio deixou uma ferida que não tinha como ser curada. Há um preço muito alto a ser pago quando o homem de gênio se dedica aos seus erros como portais de descoberta. Dezesseis anos depois do lançamento de Ulysses, Joyce lançaria a pedra final de seu novo mundo, Finnegans wake. É um livro que implode e explode a língua inglesa em uma série de trocadilhos que desafia a lógica e se baseia somente no som; não há mais um enredo, mas sim várias histórias que desaguam em uma única História que vive em eterno retorno; o mundo não é apenas composto de epifanias; é, na verdade, uma gigantesca epifania que se transforma em alucinação sobre a qual a mente do seu autor parece não ter mais controle.
E não tinha mesmo. Ele escrevia Finnegans wake quando estava no auge de sua força literária e também em um dos seus períodos mais turbulentos, quando a filha favorita, Lucia, foi diagnosticada esquizofrênica. Foi Carl Gustav Jung quem analisou a moça a pedido do pai e este se escandalizou com a avaliação. Acreditava que ela também era um gênio. Jung apenas respondeu: “Vocês nadam no mesmo oceano; contudo, se o senhor nada, ela já se afogou”.
O oceano do exílio destruiu as forças do velho Joyce, mas lhe deixou a humildade necessária para saber qual foi o valor da sua empreitada. No final de Ulysses, fez questão de colocar os lugares e as datas em que o livro foi escrito: “Trieste – Zurique – Paris, 1914-1922”. Ele escreveu o seu épico sobre a comunhão humana na mesma época em que a Europa travava a Primeira Guerra Mundial; nunca precisou ir às trincheiras porque tinha a sua própria guerra particular, uma guerra contra não só o provincianismo de sua terra como também contra o provincianismo do ser humano. Estava tão exaurido que podia se dar ao luxo de fazer a seguinte piada, como inventou Tom Stoppard na peça Travesties, quando Joyce se encontra com um soldado veterano da Primeira Guerra: “O que o senhor fez na Grande Guerra, Sr. Joyce?”, pergunta o soldado; e escuta a seguinte resposta: “Eu escrevi Ulysses. E você — o que fez?”.
James Joyce morreu no dia 13 de janeiro de 1941, de úlcera perfurada. Sua máscara mortuária, exibida no James Joyce Centre, em Dublin, mostra que não teve uma morte fácil. Foi enterrado em Zurique, de onde escapava dos tumultos da Segunda Guerra Mundial junto com sua família. Seu túmulo, segundo Richard Ellmann, biógrafo do escritor, “é simples e de classe média. Já que Joyce não gostava de flores, colocaram uma folhagem verde. Uma coroa verde no funeral trazia uma lira tramada com o emblema da Irlanda. A Irlanda não teve nenhuma outra participação no funeral”. Já Nora Barnacle Joyce morreria dez anos depois, em 10 de abril de 1951, também em Zurique, num convento. E quanto a Lucia Joyce, talvez tenha sido a única com lucidez ao definir quem era o pai quando soube de sua morte, antes de ela mesma morrer em um sanatório no dia 12 de dezembro de 1984: “O que é que aquele idiota está fazendo debaixo da terra?”, disse ela. “Quando vai se resolver a sair? Ele está nos vigiando o tempo todo.”
E talvez esteja mesmo. Joyce sofreu como poucos a ferida do exílio — mas foi também um dos poucos que enfrentou com determinação a paralisia espiritual que quase o vitimou. Há alguma forma de escapar disso? Provavelmente não, uma vez que “a arte é uma mistura de ambíguo e de inefável; seu mistério nunca passa da lápide e é tanto ou mais brutal que ela”. Cumpre a quem fica que reconheça a vigilância de Joyce, crie novos mundos a partir da imperfeição deste e acabe com as elegias que nos paralisam, pois, como diria o poeta, “há um país que é preciso pôr abaixo”.
[1] Todas as citações de Ulysses em português vêm da tradução de Bernardina da Silveira Pinheiro, lançada pela editora Objetiva (depois, Alfaguara) em 2005.
[2] Cf. o capítulo “Triângulos franceses” no Shakespeare de James Joyce, págs. 475 – 498, in: Shakespeare — O teatro da inveja, publicado pela Editora É em 2010.