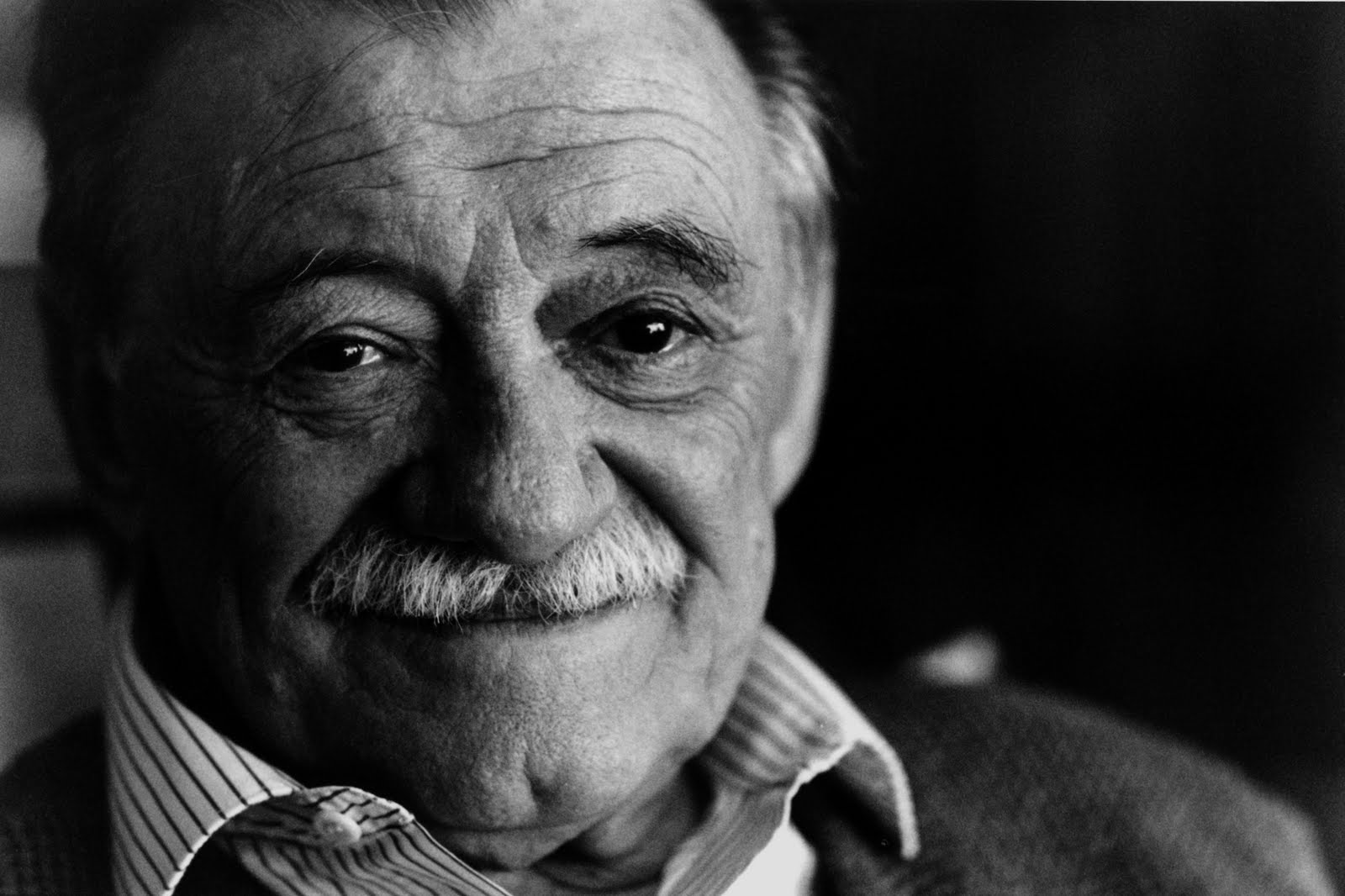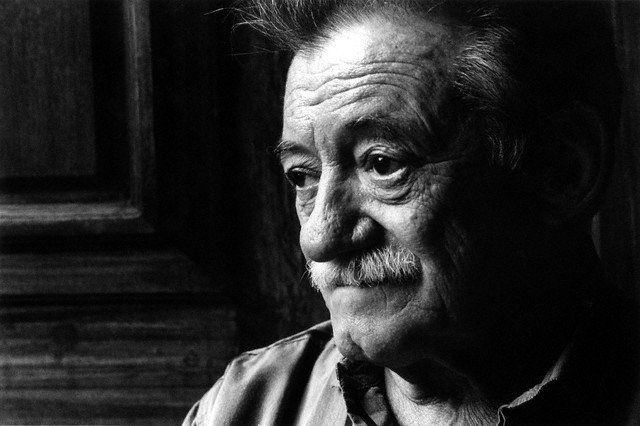Showing all posts tagged entrevista
Após linchamento moral, Diógenes Oliveira lança livro que conta sua longa e rica trajetória

Publicado em 10 de novembro de 2014 no Sul21
Após uma longa trajetória de lutas — muitas delas travadas com armas na mão ou sob tortura –, Diógenes Oliveira ficou famoso no Rio Grande do Sul por uma verdadeira campanha de difamação, cujas acusações jamais foram comprovadas. A enxurrada de denúncias, que incluíam envolvimento com o crime organizado e financiamento de campanhas políticas através do jogo do bicho, vinham em manchetes de capa acompanhadas de fotos. Após mais de cinco anos respondendo a processos, Diógenes livrou-se de todos. Só que a sequência de absolvições eram veiculadas em pequenas notas nas páginas internas. As marcas deste linchamento moral persistem até hoje.
Diógenes, o Guerrilheiro narra mais de meio século de sua vida. Combateu o Golpe de 64, foi preso e torturado. Fez treinamento militar em Cuba. Passou 20 anos no exílio. Morou em dez países diferentes: Uruguai, Cuba, México, Bélgica, Chile, Guiné Bissau, Coreia do Norte, Líbia e China Continental. Teve presença ativa em quatro golpes ou revoluções: no Brasil, Chile, Portugal e Guiné Bissau. Mas suas últimas lutas ocorreram longe das armas: foi como Secretário de Transportes do Prefeito Olívio Dutra, após a intervenção nas empresas de transporte coletivo em Porto Alegre e durante a CPI da Segurança Pública. Nesta entrevista, Diógenes faz um resumo de seus 72 anos de vida.

“Eu tinha um certo pânico de aparecer na imprensa, porque antes era só paulada. Tudo isso era potencializado nas campanhas eleitorais”.
Milton Ribeiro – O sr. foi manchete por muito tempo.
Diógenes Oliveira – É verdade. A RBS me colocou por semanas continuamente na capa de seus jornais, com fotos e grandes manchetes. Sofri um linchamento moral que deve ter sido inédito, porque eu não era político, nunca fui deputado, nunca foi vereador. Foi desproporcional. Por trás de tudo isso, eles queriam o impeachment do Olívio, isso era o que estava na pauta. Queriam nos acusar de ligações com o crime organizado, queriam tirar o governador algemado do Palácio, essa era a intenção dos caras. Meu livro está cheio de informações, mas, por conselhos de amigos, retirei algumas coisas. Se eu abro tudo, seria um Deus nos acuda.
MR – Comecemos então pelo motivo de publicar o livro neste momento.
Diógenes – Este livro está sendo escrito com dez anos de atraso. Se ele fosse publicado no auge da CPI, seria um best seller. Nos primeiros anos destes acontecimentos, fiquei ilhado por ações judiciais. Na porta da minha casa tinha uma fila de oficiais de justiça.
MR – Tinha inclusive a loira.
Diógenes – Ah, é! (risos) A oficial de justiça loira que me visitava! Os vizinhos brincavam que eu andava bancando o garanhão do bairro. Então, na época, não escrevi o livro porque estava muito enrolado judicialmente, levei vários anos para me desenrolar.
MR – Agora o senhor está totalmente livre das ações?
Diógenes – Sim, porque as acusações eram falsas e eu fui absolvido em todas as ações. Uma segunda razão para o atraso do livro é que eu tinha um certo pânico de aparecer na imprensa, porque antes era só paulada. Tudo isso era potencializado nas campanhas eleitorais. Eu não sabia bem o que fazer, se me escondia, se saía à luz do sol. Quando as coisas se acalmaram e meu nome começou a ficar mais, digamos assim, esmaecido, veio a questão da minha anistia. Eu tramitei um requerimento no Ministério da Justiça durante cinco anos e meio pedindo minha anistia, de acordo com a lei. Tarso Genro era ministro naquela época. Bom, quando veio, eu sofri um novo linchamento midiático por parte do Elio Gaspari.
MR – Em que ano foi isso?
Diógenes – Em 2008, 2007. A CPI foi em 2001, no fim do governo do Olívio. Os anos de 2001 a 2006, foram infernais: manchetes, campanhas eleitorais, novas desconfianças e processos judiciais, tudo em paralelo. Quando isso acalmou, veio a minha anistia em portaria publicada no Diário Oficial da União. Aí o Elio Gaspari desencadeou uma campanha midiática muito violenta contra mim. O Juremir Machado da Silva entrou na trilha do Elio Gaspari. A campanha que o Gaspari desenvolveu foi muito sórdida, porque ele tem uma coluna nacional, publica em duzentos jornais pelo país… Eu juntei toda uma papelada para processá-lo, eu já não aguentava mais. Foi minha ex-mulher que entrou na justiça contra ele, contratou o Fábio Konder Comparato e só não colocou o Elio na cadeira porque não quis. E aí ele parou. Hoje estou com 72 anos. Um filho se formou em jornalismo, outro em direito. Os amigos sempre me perguntavam pela biografia. Ano passado estive muito doente, estive mesmo nos umbrais da morte. Então pensei: é agora ou nunca. E aí resolvemos escrever. Antes era muito cedo e depois talvez fosse tarde demais.
“Tu pra padre já não deu, mas pra alienado eu acho que tu também não serve, tu é um guri esperto. Então eu acho que tu vai ser comunista”.

MR – Então vamos voltar no tempo.
Diógenes – Minha família era proprietária de terras, médios proprietários de terra. Eu sou natural de Júlio de Castilhos, antiga Vila Rica, cidade que leva este nome por causa do pai do Antônio Chimango. Ele nasceu lá, o próprio Júlio de Castilhos nasceu lá. Era uma antiga redução jesuítica chamada Nossa Senhora da Natividade. Uma redução que os padres fizeram meio escondida para esconder o gado dos bandeirantes que, quando não conseguiam escravizar os índios, levavam as tropas. Eu não tinha condições de estudar em colégio nenhum, então meus pais resolveram me colocar num seminário, porque era de graça. Mas eu não tinha nenhuma vocação pra aquilo. Fiquei lá uns anos e vim pra Porto Alegre.
MR – A política já fazia parte da sua vida?
Diógenes – Eu tive a sorte de, na minha cidade, haver um único comunista, que era casado com uma prima-irmã do meu pai. O cara me chamou quando soube que eu queria vir para Porto Alegre e disse: “Tu pra padre já não deu, mas pra alienado eu acho que tu também não serve, tu é um guri esperto. Então eu acho que tu vai ser comunista”. E me deu um bilhetinho para que eu procurasse a professora e poetisa Lila Ripoll. Procurei e ela foi minha tutora. Fui pupilo da Lila até depois de entrar para a clandestinidade. Foi ela que me iniciou no marxismo, na bibliografia toda, ela reunia grupos de jovens em sua casa. A Lila era comunista de carteirinha, clássica.
MR – Isso foi o quê, nos anos 50?
Diógenes – Sim, sim. Anos 50. Eu sou de 1942. Tive o privilégio de ter uma boa formação teórica por causa da Lila. Ela era uma pessoa maravilhosa, muito querida pela intelectualidade rio-grandense. Essa foi a minha infância e nisso veio a Legalidade.
MR – O sr. já estava na universidade?
Diógenes – Não, eu era secundarista. Na Rua da Ladeira tinha um colégio, o Monteiro Lobato — não é o de hoje –, onde eu estava estudando. E veio a legalidade, ou seja, a renúncia do presidente Jânio Quadros, aquele tumulto e tal. O Brizola tentou trazer o Jânio pra cá, mas ele tinha outras coisas em vista. E montou-se aqui todo aquele mecanismo de resistência que eu procuro mais ou menos em meu livro. Formou-se um QG da Legalidade onde hoje é prédio do Tudo Fácil. Ali tinha um museu chamado Mata-Borrão. Ali é que se formou o QG da resistência. O movimento da Legalidade foi muito intenso e a participação popular foi muito massiva. Os nossos lideres foram o Pedro Alvarez, o Peri Cunha, que também era coronel, e o Álvaro Ayala. Eu era um pirralho. Tínhamos armas. O Brizola requisitou a produção da Taurus e da Rossi e pegou o que tinha nas casas de caça e pesca. Eu consegui uma pistola italiana para mim, mas a gente desejava mesmo eram os “três oitão” da Taurus. O movimento durou pouco tempo porque o Jango voltou logo. Ele não podia ficar muito tempo fora do país, senão os caras consolidavam outra situação. E ele chegou aqui, se enfurnou no Palácio, não saiu dali, não falou com ninguém, não deu discurso nem nada, fez o acordo do parlamentarismo e foi para Brasília. Depois, ele começou um governo bastante reformista. E nós com uma consciência clara de que haveria, em reação, um golpe militar. Eu tinha dupla militância, militava no Partido Comunista e junto com o pessoal do PTB, do antigo PTB. O PTB sabia que muitos de nós tínhamos essa duplicidade e apoiava. Não houve resistência ao golpe. Nós esperávamos uma ordem, mas o Brizola mandou dispersar todo mundo e entregar as armas. Não queria derramamento de sangue. Ele tinha uma fazenda no Uruguai que ficava na linha imaginária da fronteira. Então, sem sair da propriedade, ele emigrava. E foi o que fez. Emigrou. Nós iniciamos um período muito grave de tentativa de resistência armada ao golpe. Víamos o novo governo como resultado de uma quartelada. Foram inúmeras tentativas, todas elas foram abortadas pelo serviço de inteligência da ditadura e dos Estados Unidos. Não conseguimos nada. Não demos sequer um tiro. Eles abortavam tudo na antevéspera e sempre prendiam as lideranças. Lá por 1965, eu já era conhecido pela repressão e trabalhava na Companhia Estadual de Energia Elétrica.
“Em Montevidéu, concentrava-se a maioria de lideranças. Estavam lá para não serem presos. Dali eu fui para Cuba a fim de fazer treinamento militar”.

MR – Que cargo o sr. ocupava na CEEE?
Diógenes – Eu era escriturário concursado, mesmo sendo secundarista. Tanto que só consegui a anistia por ter sido funcionário da CEEE. Quem me deu a documentação necessária para embasar o pedido foi ninguém menos do que a Agência Brasileira de Inteligência. Eles tinham tudo a meu respeito.
MR – E aí em 1965, com 23 anos, o senhor foi para o Uruguai.
Diógenes – Havia milhares de brasileiros por lá, principalmente marinheiros e sargentos. Porque houve aquela tentativa de revolta dos sargentos em Brasília, depois aquela movimentação toda dos marinheiros no Rio de Janeiro e aquela famosa assembleia do sindicado dos metalúrgicos. Em Montevidéu, concentrava-se a maioria de lideranças. Estavam lá para não serem presos. Dali eu fui para Cuba a fim de fazer treinamento militar. Fiquei lá quase um ano e o meu destino seria uma coluna guerrilheira na Bolívia, bem no local onde Che Guevara veio a morrer. Só não fui porque, quando eu descia Sierra Maestra, surgiu a notícia de que o Che havia sido localizado. E, quando isso aconteceu, os americanos imediatamente fizeram o chamado cerco estratégico, em que não entrava nem saia ninguém da região. O cerco estratégico do Che na Bolívia durou meses. Eu e meu grupo retornamos para Montevidéu e procuramos o Brizola. Ele não queria saber da luta armada. Nós tínhamos muitas armas, armaram-nos muito bem. O Brizola queria que nós nos desarmássemos. Mas a gente saiu de Montevidéu com nossas armas. Viemos para Porto Alegre, mas o pessoal achava que eu era muito conhecido aqui, e me mandaram para São Paulo. Cheguei em São Paulo no ano de 67. Lá estava se reestruturando aquele pessoal todo do Uruguai, depois do recuo do Brizola. A grande maioria daqueles sargentos e marinheiros começou a se reorganizar em São Paulo e fundaram a VPR, Vanguarda Popular Revolucionária. Essa organização surgiu em São Paulo porque lá tinha um forte núcleo operário, oriundo do antigo partidão. Tínhamos a hegemonia absoluta do movimento operário de Osasco e de São Caetano, com bases operárias fortíssimas. E, devido a isso e à presença de sargentos das três armas e de marinheiros, é que se fundou a VPR. Então começamos os assaltos a bancos e aos quartéis.
MR – E em um deles o sr. acabou preso?
Diógenes – Eu fui preso na Praça da Árvore em São Paulo. Fui encontrar um companheiro e a polícia estava bem defronte, numa banca de revistas. Me atiraram na caçamba de uma daquelas caminhonetes Veraneio. Eu fiquei um ano preso, seis meses na solitária. Nem mosquito tinha. Seis meses na solitária.
MR – O sr. foi muito torturado?
Diógenes – Sim. Eu tenho um joelho de titânio, resultado do pau de arara. E o olho… Eu tinha uma prótese no olho. Eles tiraram a prótese para dar choque lá dentro. Fiquei com muitas sequelas, coisas que não vou falar. Estava no Carandiru em isolamento absoluto. Quem ia para lá eram os destinados ao corredor da morte.
“Mas aí não deu porque o Marighela nos avisou: ‘Se vocês continuarem enrolando, o passarinho vai voar’”.

MR – Fale sobre a atuação da luta armada em São Paulo.
Diógenes – Em São Paulo, nossa atuação se caracterizou basicamente por duas coisas: pegar dinheiro dos bancos e armas dos quartéis. O primeiro quartel que nós pegamos foi a guarnição do Hospital Militar do Bairro do Cambuci. Conseguimos um arsenal razoável lá. E aí o comandante ficou uma arara com a gente. Ele disse que os terroristas eram uns covardes, que tinham assaltado um hospital, uma guarnição de recrutas, que “achavam que tinham almoçado o exército mas que o exército iria jantá-los em breve”. A luta armada em São Paulo teve o episódio da morte do capitão Chandler, um americano que era criminoso de guerra do Vietnã. O Chandler operou no Sul do Vietnã. A especialidade dele eram os interrogatórios rápidos. O método dele era o de botar o cara pelado, deitado numa mesa. Aí, encostava uma barra enferrujada no umbigo do cara. A barra tinha uma graduação em escalada métrica. Eles perguntavam: “Onde é que está o fulano?”. “Não sei”. Para cada “não sei” era um centímetro a mais na barriga. Era falar ou morrer, questão de minutos. Os americanos tiraram-no do Vietnã, condecoraram-no como herói da pátria e o mandaram pro Brasil a fim de ensinar essa técnica para a polícia brasileira. Mandaram o Chandler para São Paulo e o Mitrione para Montevidéu. O Mitrione era chamado de “O Professor de Tortura” e foi morto pelos Tupamaros. E nós pegamos o Chandler. Ela já tinha uma sentença de morte no Vietnã. Só não foi executado porque saiu de lá, fugiu. E nós queríamos pegar o cara vivo e para fazer um julgamento parecido com o que os judeus fizeram com Eichmann. Julgaríamos o cara, certamente o condenaríamos à morte e um dia ele apareceria enforcado na Praça da República. Mas aí não deu porque o Marighela nos avisou: “Se vocês continuarem enrolando, o passarinho vai voar”. Ele já estava com a passagem comprada para voltar aos Estados Unidos. E então foi executado.
MR – O sr. saiu da prisão trocado pelo Cônsul japonês, correto?
Diógenes – Isso, pelo Consul Japonês. Tinha um japonês da VPR que estava preso e estava apodrecendo sob tortura. Ele sabia onde é que o Lamarca estava e não falou. Então alguém teve a ideia de sequestrar o Cônsul do Japão pra trocar pelo preso japonês. Foi nessa lista que eu entrei.
MR – E foi para o México…
Diógenes – O exílio é muito longo, vou tentar ser cronológico. Eu fiquei pouco tempo no México, porque o Lamarca nos deu ordens pra ir imediatamente para Cuba. Então, em Cuba, eu recebi a missão de ir para a Coreia do Norte assistir ao Congresso Mundial da Juventude Coreana do Trabalho — não sei se aquilo terá um dia uma solução pacifica porque o ódio acumulado nos dois lados é muito grande. Da Coreia do Norte me mandaram para o Chile, em razão da vitória do presidente Allende. Militei no Partido Socialista chileno. Fiquei dois anos lá e saí depois do golpe. Fui para o México pela segunda vez e pensei que, bem, vou tentar parar um pouco, sossegar o “pito” por aqui. Fui trabalhar na cidade de Puebla, uma cidade colonial histórica muito linda. Eu trabalhava em um banco de fomento ao artesanato. Mas aí houve grandes calamidades naturais no México. A mulher do presidente, que era nossa benfeitora, nos chamou e avisou “olha, nós não vamos conseguir segurar mais vocês aqui. A oposição está muito violenta contra nós e temos muitos chilenos, não param de vir chilenos. Com dor no coração, eu preciso dizer aos companheiros que arrumem um lugar para ir”.
MR – Quanto tempo o sr. ficou no México?
Diógenes – Não chegou a um ano. Porque foram grandes inundações, muitos flagelados, o governo precisava de recursos. A oposição alegava que o governo estava gastando dinheiro com comunista, com terrorista. Os chilenos ficaram por lá, mas os outros não conseguiram. Aí fui morar na Bélgica. Escolhi o país por causa da comunidade diplomática do Benelux – Bélgica, Luxemburgo e Holanda – e em razão da universidade de Louvain, onde fui aluno do professor Ernest Mandel. Mas não terminei o curso porque estourou a Revolução dos Cravos em Portugal. De todas as da minha vida, foi a revolução mais linda que eu assisti. Fracassou porque Portugal entrou no jogo da Guerra Fria, das superpotências e foi trocado por trinta moedas em uma mesa de negociações. A União Soviética ficou com Angola, que tem alguns dos maiores poços de petróleo do mundo e é um território dos diamantes por excelência. E eu fui para Guiné, porque era muito amigo do Amílcar Cabral, tinha feito amizade com ele em Cuba.
“‘Quantas vezes tu já estiveste aqui?’ e eu respondi que tinha perdido a conta. ‘Então tu não volta mais, porque eu não vou mais te atender.’”

MR – Guiné foi uma época feliz de sua vida, não? Lá o sr. sossegou o “pito”?
Diógenes – (risos) Sim, foram oito anos. Guiné era muito pobre, tinha pouquíssimas estradas e ruas asfaltadas, poucas riquezas naturais. Arrumei um emprego no Ministério do Planejamento. Eles tinham um Estado a ser organizado, uma população a ser alfabetizada. Havia alguns cubanos lá, o hospital central era gerido e assistido por médicos cubanos. Guiné só tinha um médico guineense formado. Minha vida era razoavelmente boa lá. Eu me informava das coisas do mundo pelo rádio, não me estressava com horários, a comida era muito boa. Mas fui derrotado pela malária. Fizemos um belo trabalho no governo. Mas, nos últimos tempos da minha presença em Guiné, eu tinha uma média de dois ataques de malária por mês. Eu ia a toda hora para o Instituto de Medicina Tropical de Lisboa a fim de fazer tratamento. Esse instituto tem fama mundial. Foram eles que conseguiram erradicar a doença do sono, a da mosca tsé-tsé. Mas para a malária não conseguiram fazer uma vacina. Então o diretor me chamou e perguntou “Quantas vezes tu já estiveste aqui?” e eu respondi que tinha perdido a conta. “Então tu não volta mais, porque eu não vou mais te atender. Tu não tens cura, tens é que sair da zona infestada”. Não tinha outra solução senão sair. E voltei para o Brasil.
MR – Em que ano voltou?
Diógenes – Muito depois da anistia. A anistia foi em 79, eu voltei para cá no Natal de 83.
“Os funcionários viviam em um regime de escambo, não ganhavam salário, ganhavam mercadoria”.

MR – E entraste no PT.
Diógenes – Aqui em Porto Alegre, me contaram que tinha uma gente nova, de um bancário aí. O bancário era o Olívio e eu fui para o PT. Aí, o Olívio acabou eleito prefeito e eu fui por quatro anos Secretário de Transportes. Foi uma época muito agitada. Fizemos a intervenção no sistema de transportes. O sistema estava podre. Um toco de cigarro furava os pneus dos ônibus. Constatamos que aquelas empresas eram tudo, menos empresas de ônibus. Os ônibus eram um interesse periférico. Eu fui nomeado interventor da Trevo. Os funcionários viviam em um regime de escambo, não ganhavam salário, ganhavam mercadoria. O sistema era de vales. O funcionário pegava um vale para comprar remédio, por exemplo. Eles davam o vale e cobravam juros de 30, 40% ao mês.
MR – O sindicato?
Diógenes – Patronal e pelego. Então o Olívio renovou o sistema. As maiores obras da administração do Olívio na prefeitura foram a renovação do sistema de transportes e o Orçamento Participativo. Ao final do governo Olívio, fui trabalhar na iniciativa privada, abri uma pequena agência de viagens. E veio aquela eleição do Olívio para governador. Quando ele foi fazer a campanha, me chamou pra ajudar a catar dinheiro. Não tínhamos um tostão. Ninguém faz ideia de quanto custa uma campanha política. Por isso, quando ouço falar dos caras que querem o financiamento público de campanha, não digo nada. Isso é pura balela.
MR – Tu foste visto como o grande financista da campanha do Olívio. A agência de viagens era grande? E o Clube de Seguros?
Diógenes – Não, eu apenas sobrevivia daquilo, era uma agência pequena. Hoje, turismo e seguro não são bons negócios. As pessoas fazem tudo no computador. O problema é que o governo do Olívio foi um governo de minoria, de conflito. O Clube de Seguros, ah, o Clube de Seguros! Um companheiro nosso, Daniel Gonçalves, que trabalhava com seguros, disse que “se a gente montar um clube, se fizermos estipulações de seguros, dá pra ganhar bem”. Queríamos fazer apólices em grande escala. Foi assim que o Caburé ficou biliardário. Se eu montar uma apólice de seguro de vida com 200 caras e levar para uma companhia, eles remuneram muito bem.
“Olívio resolveu distribuir essas verbas de forma mais equitativa, mandando-as para os pequenos jornais e rádios do interior do estado. Isso equivaleu a uma declaração de guerra”.

MR – Como começou o rolo?
Diógenes – Tu sabes… As verbas de publicidade são disputadas a tapa pela mídia. Os barões das grandes cadeias acham que seus quinhões devem ser proporcionais aos índices de audiência que são, como sabemos, uma caixa preta. O governo Olívio resolveu distribuir essas verbas de forma mais equitativa, mandando-as para os pequenos jornais e rádios do interior do estado. Isso equivaleu a uma declaração de guerra. Eles queriam tirar o Olívio algemado do Palácio. E o bode expiatório de plantão era eu e o Clube. Nunca fui tesoureiro do partido e nem participei do Comitê Financeiro. Inventaram uma CPI da Segurança Pública. Forjaram uma fita onde havia uma imputação, feita pelo Jairo Carneiro, ex-tesoureiro do PT cooptado por eles, de que eu estava envolvido com o jogo do bicho e o crime organizado. Jairo era o inquirido na fita. Esta fita foi montada por três jornalistas da RBS, uns gurizinhos recém contratados. Um dia, eles resolveram que, para fechar a coisa, faltavam algumas informações. Então mandaram o Jairo Carneiro ao escritório do Daniel Gonçalves com o celular ligado para os caras da RBS ouvirem. O Jairo depois disse para a Justiça que, quando entrou no escritório do Daniel, sentiu-se pegajoso, sujo, nojento, fazendo um trabalho indecente. Afinal, o Daniel é um sujeito digno que sempre o tratara com decência. E ele desistiu. Chegou lá e desligou o celular. Depois mentiu pros caras que tinha acabado a bateria. Mas eles foram ao Ministério Público entregar a fita. E o pessoal do MP respondeu: “Olha, doutor Vieira da Cunha, nós queremos ajudar nessas investigações, são denúncias gravíssimas. Mas o senhor sabe que temos que reduzir a fita a um termo e assinar. O senhor é membro do Ministério Público e sabe que nós não podemos trabalhar só na oralidade. O dono da fita tem que degravar e assinar. Façam isso com urgência e “tragam ontem” para mim.
“O Jair perdeu a compostura e, aos berros, com o auditório da CPI lotado, pedia um ‘detector de mentiras’”.

MR – E eles não entregaram nada…
Diógenes – Claro! E cometeram um grande erro. Em vez de levar a fita para a CPI, falaram com o Jair Krischke, que era o presidente do Movimento de Justiça e Direitos Humanos. Ele estava no esquema contra o Olívio. E ele se auto-convocou para uma entrevista com o jornalista Lasier Martins, e disse “Dr. Lasier, quero fazer um comunicado importante ao povo do Rio Grande, mas não vou levar a fita com a comprovação das denúncias”. “Mas como, Dr. Jair?” respondeu o Lasier, “O senhor divulga um caso desses e depois frauda a expectativa criada?”. E o Jair: “Não, vou fazer melhor, vou levar o autor da fita na CPI”. Que era o Jairo. E aí diz o Lasier, “Mas Dr. Jair, não será temerário?”. E ele respondeu “Não, está tudo sob controle”. Foi então que o Jairo chegou lá e desmentiu tudo, revelando a armação da RBS. Eles literalmente enlouqueceram. Ele desmentiu a fita em alto e bom som. O Jair perdeu a compostura e, aos berros, com o auditório da CPI lotado, pedia um “detector de mentiras”. Tudo está contado com detalhes documentais no livro, que termina depois com um capítulo só sobre poesia, para aliviar o leitor dessa sujeira.
MR – E como a Clube de Seguros da Cidadania tinha a sede do Comitê Eleitoral do Olívio?
Diógenes – A sede do Clube foi comprada por nós. O Clube se propunha a fazer estipulação de seguros, que é algo legítimo e legal. Com a receita, nós conseguimos comprar aquela casa na Farrapos e fizemos um comodato com o PT para colocar o comitê do Olívio em nossas salas. Comodato é um aluguel sem ônus: tu te comprometes a manter a casa e pagar os impostos, mas a casa é do outro. Como nós fizemos o comodato, bastava só declarar, porque não entra dinheiro. Eles ficaram malucos, achando que era impossível.
MR – Como se encaixam o jogo do bicho e o crime organizado? Que crime organizado era esse?
Diógenes – Olha, fomos acusados de tudo o que tu possas imaginar. Quando o Jairo Carneiro saiu do PT, antes simulou um assalto ao comitê de campanha. Roubaram só o disco rígido. Imaginem, não pegaram nada, nem a CPU ou monitor quiseram, só o disco rígido. Ali havia orçamentos. Um deles era o dos custos do programa eleitoral na TV, que fora feito junto à Casa de Cinema. Dava um valor redondo de 700 mil reais para o primeiro turno. Claro que nós não tínhamos o dinheiro e pedimos um parcelamento. E a planilha tinha diversas entradas com os nossos pagamentos. Eles mudaram a título da planilha para “Arrecadação do JB (jogo do bicho)”… Veja bem, a CPI tinha como título CPI da Segurança Pública, era pra investigar a situação da segurança pública no estado. E daí derivaram a investigação para cima do Clube, com todas as manchetes em jornais da RBS e a fita gravada. A “prova” era a fita do Jairo, uma montagem. Basicamente, a CPI foi isso.
MR – E hoje?
Diógenes – Hoje tudo passou. Ganhei todos os processos na Justiça e consegui escrever meu livro. Meu advogado me alertou que eles poderiam fazer um mandado de busca e apreensão na sessão de autógrafos em razão da Kalashnikov da capa. Poderiam alegar que é uma afronta ao Estatuto do Desarmamento e apologia à violência. Hoje, sou um velho militante da esquerda e da paz, mas meu livro narra um longo combate, não é um livro água com açúcar para as comadres lerem.
A Biblioteca Pública volta ao lar: “Vamos resgatar o público que perdemos e muito mais”, diz diretora

Publicado em 20 de dezembro de 2015 no Sul21
Na tarde da última segunda-feira (14), a Biblioteca Pública do Estado do Rio Grande do Sul foi devolvida à população. Antes, pela manhã, conversamos longamente com sua diretora Morganah Marcon. O clima era de entusiasmo. Afinal, os funcionários e os livros estavam finalmente voltando para a bela casa cuja construção começou em 1912 e aberta ao público no formato atual em 1922. Há 93 anos, portanto. Ela ainda não está 100% pronta, mas já é perfeitamente habitável para eles e mais 250 mil volumes.
É um dos prédios mais bonitos do RS. Há mármores, parquês e mobiliário requintado, além de pinturas e esculturas. O revestimento das paredes internas tem pinturas decorativas. Quando foi inaugurada em 1922, a imprensa da época saudou o prédio como “do mais alto gabarito e elegância”. Quem entrar hoje na renovada Biblioteca não terá dúvidas disso.
A Biblioteca nunca deixou de funcionar, mas o prédio principal, na esquina da Riachuelo com a Ladeira, estava fechado ao público desde 2008.
Morganah Marcon falou-nos sobre a história, as várias funções e os problemas da instituição que começou sua vida em 1871, através da Lei Provincial nº 724, que autorizou o gasto de até oito contos de réis para aquisição de livros, ao mesmo tempo que criou um cargo de bibliotecário e outro de contínuo.
A querida Biblioteca já teve 40 funcionários, hoje conta com apenas 18. Mas não pensem que eles não têm grandes planos. “Somos um lugar de formação de memória, de disseminação do que é produzido”.
.oOo.

Sul21 – Tu és diretora da Biblioteca Pública desde 2003. Quando entraste, trabalhavas neste prédio. Quais eram as condições?
Morganah – Sim, eu assumi por convite de Roque Jacoby, Secretário de Cultura na época. O prédio tinha as aberturas, os pisos e os entrepisos bastante comprometidos. Havia também muitos vidros quebrados, outros estavam fora do padrão, enfim, tinha coisas inaceitáveis em um prédio histórico. Também os ornamentos da fachada corriam o risco de cair na calçada. Era um prédio de 1912 que exigia uma grande reforma, um restauro e os recursos disponíveis eram muito pequenos, em torno de R$ 465 mil reais, viabilizado pelo Projeto Monumenta. Não dava para fazer grande coisa, só o mais urgente. Isso foi entre 2006 e 2007, até nem houve a necessidade de sairmos do prédio. Porém, nesse meio tempo, nós montamos um projeto da Lei Rouanet, um projeto na época orçado em R$ 14 milhões e que incluía tudo, inclusive o restauro das pinturas murais. Deste projeto, nós conseguimos captar, em 2008, com o BNDES, R$ 2 milhões e 556 mil. E fizemos algo fundamental, que era a substituição dos entrepisos de madeira. Sob o piso de parquê tinham tábuas e estas estavam comprometidas. Elas pesavam como papel, cheia de cupins. O entrepiso foi substituído por um painel wall, que é um material que não pega cupim e que deve durar o resto da vida. Os parquês originais foram restaurados com um aproveitamento de 99%. Isso foi feito em todo o prédio, com exceção de duas salas.
Sul21 – Vocês ficaram quanto tempo fora daqui?
Morganah – Sete anos, desde 2008. No final de 2007, nós tivemos que sair, lá por outubro ou novembro, porque iam ter que mexer num dos pisos lá embaixo. Então nós saímos para a Casa de Cultura Mario Quintana.
Sul21 – E como é que sobrevive uma biblioteca fora da biblioteca?
Morganah – Foi difícil, foi muito difícil, porque tu perdes um pouco tua identidade, tu perdes a referência. É uma instituição dentro de outra instituição e esse monte de prédios públicos estaduais não tem condições de abrigar uma biblioteca. Ou requer um reforço estrutural muito grande, com investimento de vulto, ou é muito pequeno. Eu vasculhei todos os prédios do estado disponíveis. Todos os setores, mas não todo o acervo, foi para a CCMQ. Na época, ela tinha alguns espaços pouco utilizados. Ao longo desse tempo, nós fizemos outros projetos também, fizemos a higienização do acervo de obras raras, por exemplo. Enfim, a biblioteca sobrevive assim, porque entra governo e sai governo, as verbas para cultura sempre são escassas. Quando abre edital, a gente manda projeto.

Sul21 – Para muita gente, a Biblioteca Pública tinha fechado para sempre.
Morganah – Pois é, mas nós nunca estivemos fechados. Esses dias eu quase dei um beijo num rapaz ali na ferragem… É uma empresa familiar. Eu fui comprar umas lâmpadas e estavam presentes o pai, a mãe e o filho. Eu falei que era diretora da biblioteca, que a gente estava reabrindo e a mãe disse: ‘Ah, a biblioteca estava fechada’’, aí o filho disse ‘Não, a biblioteca nunca esteve fechada’. Aí eu pensei: meu Deus, é a primeira pessoa que eu falo e que tem essa interpretação, que é a correta. Nós nunca fechamos. Nós levamos os serviços todos, o setor de empréstimo de livros, toda a parte de pesquisa no acervo geral, no setor do Rio Grande do Sul, levamos o setor Braille, o acesso à internet gratuito, levamos tudo para a CCMQ.
Sul21 – Já disponibilizavam internet antes de sair?
Morganah – Sim, antes de sair. É algo bastante procurado. Temos Wi-Fi agora, que é uma novidade. Nós levamos todos os setores para a CCMQ. O que nós não levamos foi todo o acervo. Do acervo do RS levamos uma pequena parte, porque ele é muito grande, e deixamos o restante nas estantes aqui, organizados. Então, quando havia a necessidade de um livro que estava aqui, a gente vinha buscar para o pesquisador examinar na CCMQ. Por todo este período, nós nunca deixamos nossos leitores desatendidos. Mas a maioria ficou com essa impressão: a de que a biblioteca estava fechada esse tempo todo. Eu perdi a conta de quantas entrevistas eu dei para rádios, TVs e jornais avisando que nós estávamos na Casa de Cultura Mario Quintana. Eu chego à conclusão que as pessoas não leem, ou só leem o que querem, porque não houve falta de informação. Claro, a biblioteca perdeu visibilidade, é diferente de estar nesse prédio belíssimo, com menos lugares para pesquisar. O público com deficiência visual caiu bastante. Eles talvez não enxerguem a beleza do prédio, mas eles sabem, têm o tato e viviam perguntando: ‘Quando é que vai voltar a biblioteca pra lá?’. Para tu veres a sensação de pertencimento que as pessoas têm por este prédio, por este espaço. Hoje, está tudo aqui novamente.
Sul21 – Quais são os serviços da biblioteca?
Morganah – Além do empréstimo de livros para pesquisa no local, a gente tem também o acervo de pesquisa de documentação do Rio Grande do Sul. A Biblioteca Pública do estado tem a função de ser a guardiã, de preservar e disseminar a memória de tudo o que é produzido no estado do Rio Grande do Sul. A literatura gaúcha, a história, a geografia, tudo deve ficar aqui. Nós temos, por exemplo, documentos de governo, temos a função de preservar e muitos pesquisadores, historiadores e escritores utilizam nossa documentação pra compor suas teses e seus romances históricos. É um acervo de grande porte e com bastante valor sobre o estado do Rio Grande do Sul.

Sul21 – A produção literária atual vem para cá de alguma forma?
Morganah – Nem tudo. Nós temos a Lei Estadual do Livro, que foi regulamentada em 2003, que obriga as editoras gaúchas a mandarem pelo menos um exemplar do que é publicado, mas quem cumpre realmente são as editoras universitárias e as pequenas editoras. Nós temos também um serviço que a gente oferece e que é cobrado via associação de amigos: a elaboração da ficha catalográfica dos livros. Para algumas editoras, a gente faz de graça e em troca ela nos dá os livros, dois exemplares. Nós também assessoramos a questão do direito autoral, pois não temos escritório de direitos autorais aqui no RS, mas damos toda a orientação sobre como registrar o direito autoral de uma obra. A equipe é pequena, mas a gente se vira.
Sul21 – E as doações?
Morganah – Sim, a gente recebe muitas doações. Claro, no meio dessas doações vem aquilo que não serve… Alguns acham que qualquer coisa dá pra mandar para a Biblioteca. Às vezes é uma Enciclopédia Barsa que o pai tinha na década de 80. Bem, sinto muito, mas o material está desatualizado, então a gente agradece… Mas nas doações vêm muito material precioso, raro. Só com doações, já conseguimos triplicar o número de obras raras. Visitamos as bibliotecas particulares que as pessoas desejam doar e avaliamos. A gente conseguiu muita coisa boa para o setor de obras raras, principalmente de autores gaúchos, primeiras edições fantásticas.
Sul21 – Qual é o tamanho do acervo aqui na Biblioteca?
Morganah – Juntando todas as obras, temos 250 mil livros. De obras raras temos 1.100 títulos já catalogados, mas já vai virar 3.000, contando com o que está sendo catalogado. As obras raras não saem daqui, as pesquisas são locais e usa-se luvas. A parte do Rio Grande do Sul também não sai, porque pode se perder algo. Agora, o público e os pesquisadores poderão entrar e usar o acervo geral para pesquisar com orientação de um funcionário. Antes, quando a gente saiu, o acervo ficava no segundo andar, então o usuário pedia o livro lá embaixo, o funcionário encontrava no catálogo, manualmente, e o livro descia pelo elevador. Ou seja, o usuário não circulava nas estantes e isso é ruim, porque tem muito livro que nunca foi aberto por ninguém. Caminhando pelas estantes, tu podes ver outros títulos que te interessam. No meu entendimento, a biblioteca não serve se não chegar ao seu leitor, então a ideia é abrir o acervo, ao mesmo tempo que o preservamos.
Sul21 – Um acervo que é sempre crescente.
Morganah – O acervo cresceu muito. São muitas doações. A gente tem um público com grande carinho pela biblioteca. Há um pessoal fantástico que compra os livros, lê e traz pra biblioteca, então nós temos obras recentíssimas, que o estado não compra. A última vez que compramos foi em 2006 e dentro daquele limite que não exige licitação. Na época, o estado não pagava os fornecedores em dia e chegamos a fazer um pregão, só que ninguém se apresentou… Aí eu fui me queixar com o presidente da Câmara Rio-grandense do Livro e com o clube dos editores. Eles me disseram que o problema era o estado estava demorando mais de um ano para pagar e ninguém queria esperar todo esse tempo. Eu já passei por vários governos e nunca a cultura foi prioridade. Então sobrevivemos de doações particulares. A Associação de Amigos também compra alguma coisa, principalmente os livros de leitura obrigatória para o Vestibular.

Sul21 – Algum autor vem aqui entregar?
Morganah – Sim, alguns sim, mas normalmente é a gente que tem de correr atrás. Muitos querem só vender, mas outros têm reconhecimento pela biblioteca e trazem suas obras.
Sul21 – O ex-secretário Assis Brasil me deu a informação de que a biblioteca teria sido o último prédio público construído para cultura no estado, mas acho que foi o Araújo Vianna em 1964. De qualquer maneira, se 1912 ou 1964, é muito tempo.
Morganah – É triste ver isso. Eu sou funcionária estadual há 23 anos, vou fazer 13 aqui na biblioteca, então já passei vários governos.
Sul21 – Como entraste no Estado?
Morganah – Como concursada. Fiz o concurso ainda sem me formar, porque não era exigida formação em Biblioteconomia, mas até que fui bem classificada. Então fui para uma biblioteca de bairro. Fiquei lá até 95, quando fui para a Biblioteca Pública.
Sul21 – Qual é o tamanho da equipe da BP?
Morganah – Hoje eu tenho umas 18 pessoas. Quando assumi a direção em 2003, éramos 40. As pessoas vão se aposentando e não são repostas. Tem gente que quer vir trabalhar de bibliotecário, mas só viriam se tivessem função gratificada e a secretaria não tem como disponibilizar.
Sul21 – Quais são as funções do pessoal que trabalha aqui?
Morganah – São cinco setores que atendem o público, dez horas por dia, das 9 às 19h, de segunda à sexta e no sábado das 14 às 18h. Então eu preciso de pelo menos duas pessoas por setor, todos os dias. Esses setores são o multimeios, o braille, a referência, que é a pesquisa no local, o setor do RS e o de empréstimo de livros. Esses atendem o público 10h por dia. Como o funcionário não tem carga de 10h por dia, eu tenho que revezar. Dividimos os horários. Alguns entram cedo e saem às 15h, outros entram às 12h e ficam até as 19h. O horário de 12h é complicado, porque há o almoço. É pouquíssima gente mesmo e bibliotecários então nem se fala: nós somos três. Eu na administração e cuidando de tudo, sistema e biblioteca, duas catalogando e uma voluntária, uma eterna voluntária bibliotecária que eu tenho, graças a Deus, e que é aposentada da UFRGS. Ela nos ajuda muito. Mas é uma equipe reduzida. O acervo cresceu muito, nós fomos para lá com 40 mil livros e voltamos com 60 mil. Conclusão: tenho um acervo de quase 20 mil livros encaixotados que estamos lutando para catalogar. Porque catalogar não é só botar o título, tem que analisar a obra, determinar o assunto. É um trabalho moroso, que tem que ser feito por técnicos e nós não temos técnicos em número suficiente. Eu tenho dois historiadores no setor do RS e duas estagiárias de história. Estagiários nós temos quatro: dois de história e dois de biblioteconomia. São poucos também.

Sul21 – E há os eventos.
Morganah – Eventos e também parcerias. Eu trouxe para cá o Clube de Leitura, que é quinzenal, e os recitais da Escola da Ospa. O Clube de Leitura são encontros quinzenais onde se discute literatura. Por exemplo, a cada segundo semestre nós damos prioridade para as obras do vestibular, vem muito estudante que precisa saber delas. Há os saraus do braille, etc. Há também apresentações musicais e as palestras no Salão Mourisco. Tudo isso é serviço, ma nada disso traz dinheiro. O que traz um dinheirinho é uma locação através da Associação de Amigos para alguma filmagem, algum comercial. Até a reforma dos banheiros e o Wi-Fi quem pagou foi a Associação de Amigos, com recursos que conseguimos através da gravação de um comercial e de parte de um filme. Claro, sempre um ou dois funcionários acompanham, não se pode arrastar nada, não pode encostar nada na parede, não pode pendurar nada, não pode beber, não pode fazer refeição. Nós estamos num prédio que deve ser preservado.
Sul21 – A Associação de Amigos, como é que funciona?
Morganah – Ela não é tão forte como a do Theatro São Pedro ou a do Margs. O associado paga uma anuidade de R$ 60. Agora poderemos dar um retorno melhor para os associados, inclusive no uso do Salão Mourisco, que pode ser utilizado mediante agendamento. Nós temos uns 60 pagantes, menos até. No ano passado fizemos uma campanha, mas ainda são poucos, bem poucos. A gente fatura alguma coisa através das fichas catalográficas, pelas quais cobramos R$ 30, bem abaixo do preço de mercado. Temos também a taxa de empréstimo anual de R$ 5 de cada sócio, para retirar livros. No multimeios, se o usuário quiser imprimir alguma coisa, cobramos centavos pela impressão, não pelo uso. O uso é gratuito. São vários produtos que geram alguma entrada de dinheiro para a Associação e que reverte para a biblioteca. E as locações que eventualmente acontecem. Nós recebemos recentemente uma escola de música. Locamos o espaço por R$ 200, o que também não é uma fortuna.
Sul21 – O que não está pronto ainda?
Morganah – O restauro da pintura mural é um projeto à parte, é um projeto caro e demorado. Orçaremos com especialistas. Isso é um projeto à parte, é uma coisa que eu acredito que vá demorar uns quinze anos e que será feito com a Biblioteca em funcionamento. Isola uma parede, trabalha ali, depois vai para outra e assim por diante. Além disso, o que falta fazer ainda: o restauro da fachada interna, que não foi feito, e a climatização. As esperas estão prontas, mas temos que adquirir os equipamentos e esse prédio precisa ser climatizado, porque tem muita poeira, muita poluição dos veículos que trafegam ao redor, o que prejudica o acervo. E está pendente a acessibilidade. Nós temos um elevador que dá acesso às pessoas de idade, mas onde não cabe uma cadeira de rodas. Então precisamos de um elevador para cadeirantes. Tudo vai bater lá pelos 8 milhões, que é o que nos falta. Precisamos também de segurança para o acervo, do restauro dos ornamentos, das escadarias, das colunas de mármore e do mobiliário. Há partes do mobiliário que foram comprometidas pelos cupins. O mobiliário precisa ser restaurado. Mas os ornamentos das cadeiras estão todos recuperados, são detalhes caros. E a infraestrutura está toda OK, não há problema de umidade nem de infiltração, o cabeamento idem. A sustentação dos tetos também. Havia problemas graves neste aspecto, como disse antes.
Sul21 – Eu dei uma olhada no site de vocês e ele fala em anexo.
Morganah – Não, o anexo era uma proposta do governo anterior, que era esse prédio da Andrade Neves, onde os Lanceiros Negros estão. Eu tinha conseguido o prédio com recursos do governo federal, mais R$2 milhões e 600 mil de contrapartida do estado. Assim, criaríamos esse anexo. Era o nosso sonho, só que essas coisas de governo…

Sul21 – Qual é a importância da Biblioteca Pública para o estado?
Morganah – Bom, em primeiro lugar não existe prédio mais belo aqui na cidade, com detalhamento de pinturas, de murais, de mobiliário. É também é um dos templos positivistas de Porto Alegre. Além disto, somos um lugar de formação de memória, de disseminação do que é produzido no estado. Mas eu acho que o mais importante é que as pessoas têm enorme carinho por esse prédio. Todo mundo diz ‘’Ah, que bom que a biblioteca voltou’’. Os funcionários estão radiantes. A gente carregava caixas pesadas neste calor de verão, suava e não se importava. Eu ouço o pessoal daqui dizer “Ah, eu não me importo, eu tô voltando pra casa’’. Aqui é um prédio que, além da história do RS, oferece o acesso à informação, o acesso ao livro gratuitamente. É a maior do estado, a mais representativa, então tínhamos que estar de volta para o nosso público. E eu tenho certeza que, agora, com o retorno, nós vamos resgatar todo aquele público que perdemos com nossa saída e muito mais. A gente espera que as pessoas se apropriem desse espaço, para que ele se torne pequeno. Quando este lindo edifício foi construído, no início do século XX, a população era outra e o acervo era de 8 mil livros. Nós precisamos de uma biblioteca moderna para que aqui fique só a parte histórica, mas isso eu me aposento e não vejo. Espero que a situação do estado melhore.
.oOo.
Veja fotos internas e externas do prédio restaurado:





















Pollini nos dá uma aula de música

Aqui, o maior dos pianistas dá uma bela entrevista. Pollini parece pensar cada nota. Depois de ouvi-lo, a gente tem dificuldades com outros. Ele é convincente ao mais alto grau. A noite em que o ouvi em Londres foi uma das melhores de minha vida. Foi um recital muito longo dedicado a Abbado. Tinha umas 2000 mil pessoas no Southbank Center, todas em suspenso, absolutamente sozinhas com o gênio. Sensível e de enorme refinamento intelectual, ouvir Pollini (1942) — tocando ou apenas discorrendo — é um bálsamo em nossos dias bolsonarianos. Vale a pena.
Katia Suman relembra papel da Ipanema em relação ao rock e garante: liberdade era total

Publicado em 18 de maio de 2015 no Sul21
O anunciado fim da Ipanema FM e o verdadeiro muro das lamentações que se tornou a caixa de comentários da brevíssima matéria era o pretexto óbvio para uma entrevista com Katia Suman. Porém, a ex-coordenadora e principal apresentadora da legendária emissora não é apenas seus quase 20 anos de Ipanema, é também os 16 anos de Sarau Elétrico, e os 5 de rádio Elétrica, além tocar vários projetos paralelos como o do Cais Mauá de Todos.
Katia, que se autodenomina uma “sub celebridade porto-alegrense” é a filha do zagueirão gaúcho Gago. O motivo no apelido é que ele gaguejava na hora das entrevistas, problema que ela não herdou. Ela nasceu em Salvador quando seu pai jogava no Vitória (BA) e agora está escrevendo um livro sobre seus anos na famosa 94.9. Mas sua entrevista ao Sul21 não se limita à nostalgia, focando também o modo como se faz o rádio tradicional, as novas formas e a série de projetos que Katia leva em frente. Tudo isso acompanhado das boas histórias de quem pode dar consultoria de como viver e trabalhar sem dinheiro.

Sul21: Como começou a tua história na Ipanema FM?
Katia Suman: Eu tinha voltado de uma temporada de 7 anos em São Paulo, tinha decidido não mais trabalhar com publicidade (fui redatora) e estava tentando achar meu rumo. Nesse processo havia sempre um rádio ligado, porque eu sempre gostei de ouvir. Descobri a rádio Bandeirantes, que era muito melhor do que qualquer emissora paulista, com um excelente repertório musical. E uma fala tão coloquial, tão verdadeira, tão fora dos padrões radiofônicos, fiquei realmente muito impressionada. Pensei que eu poderia fazer um programa nesta rádio. Elaborei um roteiro, levei para o Nilton Fernando e ele me recebeu, gostou da ideia, gostou do meu perfil. Pouco tempo depois, quando a rádio passou a se chamar Ipanema, eu comecei, ancorando o horário da noite, das 20h à meia-noite.
Esse negócio de “música de trabalho” que a indústria fonográfica inventou, não colava com a gente.
Sul21: Como a equipe (principais apresentadores) foi formada? Como o pessoal chegava?
Katia Suman: Quando eu cheguei o grupo era formado pelo Nilton, diretor, Mauro Borba, locutor da tarde, a Mary Mezzari, redatora. Tinha também o Ricardo Barão que fazia o Central Rock. A interação da rádio com os ouvintes sempre foi muito forte, muito antes da internet os ouvintes realmente tinham voz na Ipanema: eles participavam, opinavam, davam dicas, levavam discos e nos mantinham informados de tudo o que estava rolando pela cidade. Era já uma rede. Pois bem, em 85 eu criei o Clube do Ouvinte, programa que, como o nome diz, os ouvintes faziam. Eu explicava como fazer o roteiro e eles iam lá apresentar. Houve programas memoráveis, muita gente legal se dispôs a ir ao estúdio, compartilhar seus discos e artistas preferidos. Alguns que apresentaram esse programa acabaram entrando para a equipe da rádio: a Nara Sarmento, por exemplo, o Porã, o Cagê e o Cláudio Cunha. O Alemão Vitor Hugo começou como redator e depois virou locutor.
Sul21: Como se deu o crescimento da rádio?
Katia Suman: Era a rádio certa na hora certa. O país vivia o processo de redemocratização, estava saindo do período tenebroso da ditadura militar. Havia no ar um desejo de liberdade, de exorcizar toda aquela opressão. É nesse momento que surge a famosa cena dos anos 80: Barão Vermelho, Paralamas, Titãs, Blitz, Ultraje, Camisa de Vênus e tantas outras. E aqui TNT, DeFalla, Replicantes, Engenheiros, Taranatiriça, Cascavelettes e tantas outras. A sintonia entre o público e nós, que fazíamos a rádio, era total. Falávamos a mesma língua, tínhamos os mesmos interesses, íamos aos mesmos shows, assistíamos aos mesmos filmes, frequentávamos os mesmos bares, líamos os mesmos livros. Era uma comunicação muito horizontal, éramos, sem saber, já um coletivo. Não era uma relação “rádio aqui e público lá”, como costuma ser. A rádio falava de tudo: política, ecologia, economia, artes, drogas, religiões, tudo! Nunca subestimamos a inteligência da nossa audiência. Num contexto em que as outras rádios voltadas ao público jovem tinham aquele discurso padrão, aquela locução alegre, acelerada e superficial, aquele listão de músicas reduzido e predominantemente internacional, a diferença era gritante. Com o tempo, as outras rádios passaram a dar atenção também a essa nova cena que surgia e a incorporar algumas das nossas sacadas.
Sul21: Havia jabá ou a liberdade era total?
Katia Suman: Liberdade total. Nunca nos submetemos. Inclusive uma das características da rádio era rodar praticamente todas as faixas (era no tempo das faixas) de um disco. Esse negócio de “música de trabalho” que a indústria fonográfica inventou, não colava com a gente. E a gente se esmerava em oferecer o que havia de melhor na música. Não havia internet, as gravadoras deixavam de lançar muita coisa aqui no Brasil. Então era a “caça ao tesouro”: alguém viajava e trazia de fora, ou conseguíamos em lojas de discos importados, ou os ouvintes nos levavam e a gente gravava. Enfim, era uma batalha. E a gente rolava de tudo: rock, funk, blues, jazz, mpb, bossa nova, música erudita, rap, hip hop. Sobre jabá, quem se interessar, minha dissertação de mestrado é sobre o tema e está disponível aqui.

Naquele momento a nossa voz era mais forte que a da RBS.
Sul21: Qual foi o papel da emissora em relação ao rock gaúcho?
Katia Suman: Foi muito importante. O fato de a rádio rodar os artistas, dar visibilidade a eles, ajudou a criar público. Começaram a surgir várias bandas, vários estúdios de ensaio, estúdios de gravação, casas noturnas com espaço para shows, um circuito de shows pelo estado, enfim, uma cena. As bandas gaúchas num dado momento, lotavam o Gigantinho.
Sul21: Tu te tornaste uma rara celebridade porto-alegrense fora do mainstream da RBS.
Katia Suman: Sub celebridade, né? Mas sim, todos nós ficamos muito conhecidos. Naquele momento a nossa voz era mais forte que a da RBS.
Sul21: O resultado financeiro da Ipanema FM era aceitável ou ficava abaixo do esperado?
Katia Suman: Olha, não só era aceitável como chegou a ser excelente em alguns momentos. Nos anos 80 e 90 a rádio cresceu muito em audiência e faturamento. Todo mundo que tinha como alvo o público jovem, anunciava na Ipanema.
Sul21: E a tua primeira demissão na Ipanema? Foi mesmo por “contenção de custos”?
Katia Suman: Foi o que me disseram. Deve ter sido mesmo. Se foi outro o motivo, nunca soube e acho que nunca saberei.

Sou entusiasta de primeira hora da internet e de toda essa revolução que está em curso.
Sul21: O teu período de madrugadão — programa das 2h às 6h — na Atlântida equivaleu a uma temporada na Sibéria?
Katia Suman: Mais ou menos. Mas por outro lado aprendi a operar uma mesa de áudio, aprendi a falar no ar, inventei um jeito de me comunicar. Valeu. Esse estágio foi antes de eu entrar efetivamente para a Ipanema.
Sul21: É mesmo? Saíste de lá por ignorar o set list programado para tocar na rádio, fazendo a tua própria seleção musical?
Katia Suman: Sim. Eu ficava falando a noite inteira, lia e comentava notícias e rodava a programação musical que me deixavam. Acho que os porteiros de prédios, seguranças e taxistas que ficavam acordados de madrugada, gostavam. Eu comecei a enjoar da programação que era sempre a mesma, só alterava a ordem das músicas. E comecei a dar uma incrementada. Claro que o programador musical não gostou.
Me orgulho da rádio Ipanema ter sido a primeira emissora gaúcha a ter um site (e a segunda do país) e isso aconteceu na minha gestão.
Sul21: Antes de voltar à Ipanema, durante tua época na TV Com, criaste a rádio Elétrica na web. Durante um período, as duas rádios foram concomitantes, correto? Qual é o caráter deste projeto?
Katia Suman: A rádio Elétrica surgiu da minha necessidade de compartilhar o que eu leio, descubro e aprendo. É um lance meu, uma necessidade. Desde o tempo em que eu fazia a madrugada da Atlântida, eu tinha um caderno em que, durante o dia, anotava notícias e reportagens e trechos de livros e coisas do gênero para falar no ar. Então, quando eu fiquei sem rádio — nessa época eu estava na TV Com –, criei a Elétrica. Em dezembro de 2010. No começo eu fazia sozinha, 2 horas por dia, ao vivo, rolando música e falando. Aos poucos foram entrando pessoas, vários programas foram criados e transmitidos. Algumas pessoas saem, outras entram e assim segue. Eu fiz a escolha de uma a uma das milhares de músicas que rodam. E hoje apresento o Talk Radio mais ou menos ao meio-dia, de segunda a sexta, cada dia conversando com uma das pessoas de um grupo muito legal, de diversas formações e profissões. Participam comigo, ao meio-dia, a psicanalista Christiane Ganzo, o produtor cultural Fernando Zugno, a médica Cinthya Verri, o escritor e professor Diego Grando e a especialista em sustentabilidade, Fabíola Pecce.
Sul21: A rádio Elétrica dá alguma grana ou tu pagas para tê-la? Essa migração já faz parte de uma percepção tua de que não dá mais nas FMs e AMs da vida?
Katia Suman: Até agora eu paguei o custo da rádio que inclui serviço de streaming, hospedagem de dados e equipamento. Agora comecei uma parceria com um apoiador (obrigada, Newkeepers) e esses custos serão bancados. Sou entusiasta de primeira hora da internet e de toda essa revolução que está em curso. Me orgulho da rádio Ipanema ter sido a primeira emissora gaúcha a ter um site (e a segunda do país) e isso aconteceu na minha gestão. Em 1997, tínhamos uma webcam transmitindo do estúdio da rádio. Quase ninguém assistia, pois eram poucos os que já estavam conectados. Mas nós já estávamos lá. Portanto a rádio web é quase um caminho natural para mim. Me agrada muito esse espírito do it yourself da internet.

Há uma diferença primordial da web para o FM, que é a possibilidade de ouvir o conteúdo a qualquer momento.
Sul21: Há também o Sarau Elétrico, de longa vida para um projeto literário. Como surgiu e ganhou consistência?
Katia Suman: O Sarau Elétrico também está dentro daquela lógica de compartilhar informações, no caso, informações de alta cultura, de intelectuais como os professores Luís Augusto Fischer e Cláudio Moreno. Atualmente, enquanto o Fischer está fora, o professor Sergius Gonzaga entrou para a trupe, que tem ainda o poeta e professor Diego Grando e a querida Claudia Tajes. Ainda nos primórdios da Ipanema, eu tinha por hábito ler trechos de livros. Sempre li bastante e cheguei a cursar Letras, embora não tenha concluído. Eu pensei em fazer um evento aberto, público, para leituras e conversas. Convidei o Fischer e o Frank Jorge. Eles toparam e começamos. E lá se vão 16 anos. No decorrer do período fomos criando uma dinâmica, um jeito, um borogodó qualquer que funciona. A atividade é muito prazerosa, aprendo muito. E nos divertimos também.
Sul21: Como potencializar audiências em tempos de narrowcasting? Pois uma radioweb é radicalmente diferente das tradicionais AMs e FMs (broadcasting).
Katia Suman: Ah, pois é. Eu não sei como potencializar audiência e nem chego a pensar muito sobre isso. Talvez devesse. Sim, rádio web é bem diferente. Não vejo sentido em botar só música, por exemplo, já que com esses serviços tipo spotify e deezer é possível ouvir música da melhor qualidade de qualquer gênero. Sem falar nas milhares de rádios espalhadas pelo mundo todo. Por outro lado, quem ouve a rádio Elétrica deve gostar da minha curadoria musical, porque tudo o que roda foi escolhido a dedo por mim. Estou constantemente atualizando o repertório. Mas o que faz mais sentido pra mim é compartilhar ideias, trazendo pessoas interessantes para juntos pensarmos o mundo que construímos. Eu acho também que há uma diferença primordial da web para o FM, que é a possibilidade de ouvir o conteúdo a qualquer momento. Por isso, os programas da rádio são todos arquivados em podcast.
Parece que a faixa FM já está virando uma imensa AM
Sul21: Que futuro tu vês para as atuais FM e seus modelos?
Katia Suman: A migração das AMs para a faixa de FM está acontecendo antes mesmo do prazo estabelecido pelo governo. E de uma maneira meio esquisita, que é duplicar o sinal, ou seja, transmitir o mesmo conteúdo nas duas frequências. Com o mesmo custo, o empresário tem duas fontes de faturamento. Então parece que a faixa FM já está virando uma imensa AM, ou seja, notícias, futebol e comunicação bem popular. Rádio FM para público jovem, acho que já era. Adolescentes nem conhecem o objeto rádio, não sabem como ligar (não é touch) nem para que serve. Tudo o que eles precisam em termos de informação e música está na internet.
Sul21: Tu tens te envolvido em projetos e tomado posições claras em relação à cidade. Há a Festa da Leitura e o coletivo Cais Mauá de Todos, por exemplo.
Katia Suman: Na Festa da Leitura eu participei muito discretamente, sugerindo algumas atrações para a programação e fazendo assessoria de imprensa.

Daqui a pouco vou dar consultoria de como viver, trabalhar e produzir sem dinheiro.
Sul21: E o resto?
Katia Suman: Atualmente eu estou fazendo um doutorado em Letras e o meu trabalho final será um livro sobre a Ipanema, feito a partir de relatos feitos à época, por todos os integrantes da rádio. Eram cadernos que ficavam no estúdio e ali anotávamos tudo o que acontecia, nos comunicávamos internamente. Era o nosso e-mail. Eu tenho cadernos de 1984 a 1997. É um belo documento. Também quero finalizar um documentário que comecei em 2013, quando tomei contato com uma cena de festas que acontecem nas ruas de Porto Alegre. São ocupações do espaço público, bonitas, com arte, alegria. Gente jovem reunida. Durante 2013 e 2014 captamos mais de 40 horas de imagens dessas festas, entrevistei um monte de gente. Estou buscando formas de finalizar. Tentei o Fumproarte, mas não rolou. Estou esperando agora o resultado de um edital nacional. Se não rolar vou fazer sem dinheiro mesmo, como tudo foi feito até aqui. Eu daqui a pouco vou dar consultoria de como viver, trabalhar e produzir sem dinheiro.
Sul21: Como surgiu a necessidade de te envolveres com as questões da cidade e da orla? O fato de seres bastante conhecida facilita e dá maior visibilidade às causas?
Katia Suman: Eu era daquelas pessoas que andava sempre de carro. Fazia todos os meus trajetos de carro. Mas, à medida que o trânsito começou a ficar muito denso e travado, eu passei a me sentir tão incomodada que fui mudando a maneira de me locomover pela cidade. Passei a caminhar muito mais do que antes, a usar mais transporte público e a andar de bicicleta. A partir desse contato mais próximo com as ruas da cidade — no carro, a gente está numa bolha –, eu comecei a tomar consciência da realidade da cidade, do estado de abandono das ruas, da deterioração dos espaços públicos, da humilhação a que os pedestres são submetidos quando esperam longos minutos para terem direito a alguns poucos segundos para vencer ao menos uma faixa de uma avenida. Paralelo a isso, comecei a fazer um programa chamado Cidade Elétrica com a escritora Carol Bensimon e o arquiteto João Marcelo Osório. (Na rádio Elétrica, claro – tem os podcasts lá). Entrevistamos muitas pessoas envolvidas com urbanismo, eu passei a pesquisar o assunto, li livros, vi palestras, fui me informado. E quando a gente se informa e cai na real, não tem como não se envolver. A gente vive hoje uma situação inédita na história do planeta terra: pela primeira vez a população que vive em cidades é superior a que vive no campo. E os problemas que a gente costuma encarar como “globais”, como mudanças climáticas (80% da emissão de gases que causam o aquecimento global vem das cidades) ou crise energética (75% do consumo global de energia acontece nas cidades), são em muitos aspectos, problemas urbanos, problemas das cidades. Eles não serão resolvidos se as pessoas que vivem nas cidades não se envolverem ou se responsabilizarem.
Nós precisamos de uma revolução de participação. E rápido!
Sul21: E Porto Alegre, neste contexto.
Katia Suman: Pois é. Vou dar um exemplo dessa falta de envolvimento: Porto Alegre foi a primeira cidade brasileira a ter coleta seletiva de lixo. Desde 1990 há esse tipo de coleta e hoje toda a cidade está contemplada. 100%. Mas qual a porcentagem da população que efetivamente separa os seus resíduos? Apenas 25%!!!!! O que acontece com os outros 75%? Eles não se responsabilizam, eles não se envolvem. Eles não se interessam pelo assunto. Nós precisamos de uma revolução de participação. E rápido!
Sul21: E o movimento Cais Mauá de Todos?
Katia Suman: Aproveitando o espaço, eu convido o distinto leitor a conferir a página facebook.com/caismauadetodos e participar da discussão que nós estamos propondo. Somos um grupo de pessoas que, a exemplo de mobilizações passadas — como a que evitou que o Parcão virasse um lote de 40 prédios nos anos 50 e a que evitou a derrubada do Mercado Público nos anos 70 –, está lutando para que não se desfigure uma área de imensa importância histórica da cidade. Seguramente a mais importante. Porto Alegre só existe por causa do porto, que aliás dá nome à cidade. Se não fosse o porto, a capital seria Viamão, como de fato foi. Obviamente que nós não queremos que aquela área continue abandonada e degradada. Nós queremos sim progresso e desenvolvimento, geração de empregos, tudo isso. Mas não aceitamos shopping e torres naquela área da cidade. Queremos envolver a população nessa discussão.

Zygmunt Bauman: ‘Três décadas de orgia consumista resultaram em uma sensação de urgência sem fim’

Do caderno Aliás, do Estadão
A frouxidão de nossa era está novamente sob escrutínio do sociólogo polonês Zygmunt Bauman. Criador do conceito de modernidade líquida, que acusa a fragilidade das relações atuais, ele se volta às angústias destes “dias de interregno”: quando os velhos jeitos de agir já não servem, mas os novos não foram inventados. “Trinta anos de orgia consumista resultaram em um estado de emergência sem fim”, diz – e indica uma saída: “O que pensávamos ser o futuro está em débito conosco. Para superar a crise, temos de ‘voltar ao passado’, a um modo de vida imprudentemente abandonado”

Zygmunt Bauman presenciou os principais acontecimentos do século 20 e na virada do milênio criou uma teoria que levaria seu nome para além do campo da sociologia e o tornaria um escritor best-seller – sobre a liquidez da sociedade, das relações, do nosso tempo. Um dos principais pensadores da modernidade, este polonês prestes a completar 91 anos não perde um debate, e tudo que o inquieta é transformado em livro. Fecundo autor, já escreveu cerca de 70 títulos – entre os mais de 30 publicados no Brasil, todos pela Zahar, estão Modernidade Líquida, Amor Líquido e o mais recente A Riqueza de Poucos Beneficia Todos Nós? Ele está lançando agora Babel – Entre a Incerteza e a Esperança, mas, nesta entrevista concedida ao Aliás, já anuncia uma nova obra para 2017, Retrotopia, e comenta sobre Strangers at Our Door, de 2016 e ainda inédito aqui.
Babel fala do interregno – termo usado por Bauman e pelo jornalista Ezio Mauro, seu interlocutor na obra – em que estamos vivendo. Um tempo entre o que não existe mais e o que não existe ainda. De incertezas e instabilidade. Para eles, não há, no momento, movimento político que ajude a minar o velho mundo e esteja preparado para herdá-lo. Um período em que testemunhamos uma guinada conservadora geral, a instalação do medo devido a ameaças terroristas constantes – a ponto de um grupo de espanhóis confundir uma flashmob com um ataque e entrar em pânico – e as crises diversas – econômica, política, migratória, e, sobretudo da democracia que, depois de muito esforço para derrotar ditaduras, ainda precisa lutar diariamente por sua supremacia e para provar sua legitimidade, como apontam os autores. A seguir, trechos da entrevista de Bauman, professor emérito das universidades de Varsóvia e de Leeds.
Quando o sr. criou o conceito de modernidade líquida, vivíamos tempos melhores ou piores? O conceito ainda se aplica hoje ou já caminhamos para um outro tempo? Que interregno é esse que estamos vivendo e o que acontece depois?
Como medir a relativa excelência do nosso estilo de vida? Em que aspectos, por quais critérios? E quem são os “nós” cuja vida queremos analisar? Entre os diferentes setores da sociedade nem o ritmo e nem as direções tomadas são coordenadas (pense no fabuloso crescimento da renda e da riqueza dos 1% que estão no topo da hierarquia social frente à estagnação ou mesmo piora do nível de vida dos restantes 99%, e a outrora confiante classe média se juntando ao ‘proletariado’ ortodoxo para formar uma nova categoria, do ‘precariado’ – notória pela posição social frágil e suas perspectivas indefinidas). No geral, podemos dizer que 15 anos depois da publicação de Modernidade Líquida, a nova era, ainda incipiente e pouco percebida em meio a 30 anos de orgia consumista, de gastar dinheiro não ganho e de viver o pouco tempo que resta em novos bairros já moribundos está chegando à sua total fruição: estamos vivendo à sombra de suas consequências. E isso significa incerteza existencial, medo do futuro, uma perpétua ansiedade e uma sensação de urgência sem fim, com a primeira geração do pós-guerra sentindo a queda do nível de bem-estar social conseguido por seus pais e, na vida pública, a perda total de confiança na capacidade dos governos cumprirem suas promessas e o dever de proteger os direitos dos cidadãos e atender aos seus interesses. O fim desta confiança engendra, por outro lado, um ambiente em que ‘ninguém assume o controle’, em que os assuntos do estado e seus sujeitos estão em queda livre, e prever com alguma certeza que caminho seguir, sem falar em controlar o curso dos acontecimentos, transcende a capacidade humana individual e coletiva. O ‘interregno’ significa que velhas maneiras de agir não dão mais resultado, contudo, as novas ainda precisam ser encontradas ou inventadas. Ou: tudo pode acontecer, mas nada pode ser feito e visto com certeza.
De repente, parece que o mundo virou de ponta-cabeça: ameaças terroristas, crises econômicas, sociais e migratórias – e uma guinada conservadora está em curso. Como chegamos até aqui? Isso foi uma surpresa?
A probabilidade dos fenômenos que você mencionou foi sugerida – na verdade, inferida – pelos sintomas que se acumulam da cada vez mais ampla separação, beirando o divórcio, do poder (ou seja, a capacidade de realizar as coisas) e da política (a capacidade de decidir quais coisas necessitam ser feitas). Essas duas condições indispensáveis para uma ação efetiva até mais ou menos 50 anos atrás caminhavam de mãos dadas no Estado-nação, mas se separaram e seguiram destinos diferentes: enquanto o poder em grande medida ficou ‘globalizado’ – e se tornou ‘extraterritorial’, livre de controles, direção e orientação por instituições políticas – a política permaneceu como antes, local, confinada ao território do Estado e impotente diante da influência importante dos poderes que não se submetem a controles e que são os que importam na escala global. Hoje, os poderes emancipados do monitoramento e da supervisão política enfrentam políticos pé no chão e sofrendo o contínuo, e até agora incurável, déficit de poder. Vivemos uma crise institucional permanente. Os instrumentos de ação coletiva herdados dos nossos ancestrais e cujo fim foi servir à causa da independência de estados territorialmente soberanos não são mais adequados nesta situação de interdependência mundial criada pela globalização do poder.
A atual crise da democracia, e, portanto, a crise das instituições democráticas, como o sr. coloca, são importantes tópicos de ‘Babel’. O senhor diz que os governos democráticos são instáveis porque tudo está fora de controle, e que a democracia não é autossuficiente. Qual é a real ameaça que enfrentamos? E qual é a origem desta crise?
Uma advertência: ‘crise de democracia’ é uma abreviação, uma noção limitada. Em países com constituições democráticas, a crise de um Estado-nação territorialmente confinado é culpa (afirmação fácil, mas não muito competente) de seus órgãos e características definidos constitucionalmente, com a divisão de poderes, liberdade de expressão, equilíbrio de poderes, direitos das minorias, para citar alguns. Mas se a democracia está ‘em crise’ é porque o Estado-nação territorialmente soberano (concebido em 1648 pelo Tratado de Westfalia e cuja fórmula é cuius regio eius religio – os súditos obedecem ao governante) está em crise, incapaz de atacar e enfrentar, sem falar em solucionar, problemas gerados pela nova interdependência da humanidade. Houvesse um governo autoritário ou ditatorial substituindo um regime democrático, os órgãos políticos resultantes não estariam livres da fragilidade dos órgãos de governos democráticos que ele substituiu e pela qual a democracia hoje é acusada. Quero acrescentar que o veredicto atribuído a Winston Churchill (“democracia é o pior dos sistemas políticos, à exceção de todos os outros”) continua verdadeiro até hoje. Para não dar confusão, acho que é aconselhável evitar atribuir responsabilidades pela impotência observada hoje dos Estados territorialmente soberanos e, em vez disso, analisar a incongruência fundamental do nosso tempo ansiando por uma revisão radical das ideias e uma reformulação das formas de coabitação da humanidade na Terra. Segundo Ulrich Beck, essa incongruência deriva do fato de que nós todos, gostemos ou não, já estamos inseridos numa situação cosmopolita, mas não nos preparamos seriamente para a tarefa extremamente urgente de desenvolver e assimilar a consciência cosmopolita.
No Brasil existe um grupo pedindo a volta dos militares ao poder e outro dizendo que o processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff é golpe político. Na Turquia, os militares tentaram tomar o poder. De onde vem essa vontade de “ordem”? O quão prejudicial isso pode ser para o atual estado das coisas? Enquanto isso, Trump conquista legitimamente mais e mais eleitores. O que sua vitória pode representar para o mundo? E o que sua ascensão nos diz sobre os EUA de hoje?
O problema não é o número crescente, em vários países, de pretendentes a regimes autoritários, mas do ainda mais rápido crescimento de seus devotados apoiadores. Não é uma questão sobre os que querem o poder (eles sempre serão muitos, já que a demanda popular por eles é abundante), mas sobre a ampliação da demanda pelos serviços que eles falsamente prometem que constitui indiscutivelmente o mais perigoso dos desafios futuros que enfrentaremos. Aproveito para citar, neste aspecto, um fragmento do meu recente livro Strangers At Our Doors: “Numa flagrante violação da intenção e das promessas modernas de substituir as incertezas do destino por uma ordem coerente das coisas, sem ambiguidades, orientada por princípios morais de justiça e responsabilidade – assegurando assim uma correspondência estrita entre as aflições dos humanos e suas opções comportamentais –, os humanos hoje veem-se expostos a uma sociedade repleta de riscos, mas vazia de certezas e garantias. A primeira causa é a transcendental ‘individualização’, codinome dos que representam para a imaginada insistência da ‘sociedade’ em subsidiar a tarefa de resolver os problemas gerados pela incerteza existencial com recursos eminentemente inadequados exigidos dos próprios indivíduos. (…) Como Byung-Chul Han sugere, nossa ‘sociedade de desempenho’ se especializou numa mudança no campo da manufatura e no expurgo de ‘depressivos e desajustados’. Eles são simultaneamente vítimas e cúmplices do seu fracasso e da depressão que ao mesmo tempo é causa e consequência. (…) Com os poderes do alto lavando as mãos e rejeitando seu dever de tornar a vida das pessoas suportável, as incertezas da existência humana são privatizadas, a responsabilidade para enfrentá-las tem de ser arcada pelo frágil indivíduo, enquanto as opressões e calamidades existenciais são descartadas como tarefas tipo ‘faça você mesmo’ a serem executadas pelo indivíduo que padece. (…) Para o indivíduo que se vê abandonado e desalojado com a retirada do Estado, a ‘individualização’ pressagia uma nova precariedade da condição existencial: uma situação ruim que se torna cada vez pior.” Agora este é um contexto psicossocial em que a ânsia de um homem forte (ou mulher) que proponha ‘me deem o poder absoluto e eu o libertarei das tormentas de riscos que você não consegue enfrentar e das decisões que não consegue tomar’, só se expande.
Onde estão nossas utopias? Estamos perdendo nossa capacidade de sonhar?
Acho que uma mudança transcendental é provável. Ao sonharmos com uma sociedade mais acolhedora e uma vida decente e significativa, avançamos gradativamente da utopia (lugar ainda inexistente, mas à espera no futuro) para o que chamo de ‘retrotopia’ (‘volta ao passado’, ao modo de vida que foi exageradamente, irrefletidamente e imprudentemente abandonado). Trato disso no meu novo livro, Retrotopia, a ser publicado pela Polity Books em 2017. Podemos concluir que passado e futuro estão nesse quadro intercambiando suas respectivas virtudes e vícios. Agora é o futuro que parece ter chegado ao tempo de ser ridicularizado, sendo primeiro condenado pela falta de confiança e dificuldade de manejar e que está em débito. E agora o passado é o credor – um crédito merecido porque neste caso a escolha ainda é livre e o investimento é na esperança na qual ainda se acredita.
O senhor é otimista com relação ao futuro próximo do mundo? A esperança é mesmo imortal, como o senhor afirma em ‘Babel’?
Procuro seguir o preceito de Antonio Gramsci: ser pessimista a curto prazo e otimista a longo prazo. Afinal, esta não é a primeira crise na história da humanidade. De alguma maneira, as pessoas encontraram meios para superá-las no passado. Eles podem (e é essa capacidade que nos torna humanos) repetir a façanha mais uma vez. A única preocupação é: quantas pessoas pagarão com suas vidas desperdiçadas e oportunidades perdidas até que isto ocorra?
(TRADUÇÃO DE TEREZINHA MARTINO)
Recuperação da esquerda brasileira levará anos, diz professor


Da BBC Brasil
A crise política deverá ser seguida por um longo período de domínio da direita, diz Idelber Avelar, professor na Universidade Tulane (EUA), à BBC Brasil.
Nesse cenário, ele afirma que a esquerda e os movimentos sociais podem levar anos para se reagrupar.
Brasileiro, Avelar leciona literatura latino-americana e estudos culturais nos Estados Unidos desde 1999, mas se tornou conhecido entre muitos compatriotas por seus posicionamentos políticos nas mídias sociais.
Crítico do PT, ele não vê razões para se associar aos grupos que defendem a permanência de Dilma Rousseff na Presidência e rejeita a descrição do cenário político brasileiro como uma “briga de duas torcidas ante a qual você tem de se posicionar ao lado de uma delas”.
A seguir, os principais trechos da entrevista.
BBC Brasil – Com a crise houve alguma mudança na forma como o Brasil é encarado nos EUA?
Idelber Avelar – Cinco anos atrás o Brasil era o modelo de como crescer com instituições democráticas fortes e reduzindo a desigualdade. Neste momento perdemos as três coisas: não estamos crescendo, não estamos reduzindo desigualdade e as instituições democráticas estão em perigo, pelo menos.
Chama atenção a rapidez com que se desmoronou esse modelo. Há um cenário político marcado por tremenda instabilidade, com uma classe política na situação e oposição completamente desmoralizada, e não há perspectiva de transformação desse quadro em longo prazo. Vivemos uma grave crise econômica, institucional, política e ambiental.
BBC Brasil – Por que ambiental?
Avelar – Uma das características essenciais dos governos petistas tem sido o desenvolvimentismo arrasa quarteirão. Ambientalistas, lideranças indígenas e ribeirinhas na Amazônia dizem que o PT foi pior para a região que o PSDB. O PSDB implantou aquele modelo de estado mínimo, deixando que a iniciativa privada resolvesse.
O governo petista apostou num modelo através do qual o Estado gera mecanismos para que as grandes construtoras realizem negócios e (em troca) financiem campanhas eleitorais.
Sou a favor de que se estabeleça algum tipo de requisito dentro do nosso aparato educacional para que pessoas do Sul e Sudeste possam visitar a Amazônia e ver o que aconteceu no Xingu com a construção da usina de Belo Monte, o que aconteceu no rio Madeira, para ver o que é a expansão da soja.
Isso lhes daria uma leitura diferente da realidade e desmontaria uma noção de crescimento que muita gente da esquerda fetichiza.
BBC Brasil – Não é inviável se opor ao crescimento num momento em que o Brasil enfrenta uma grave crise econômica, com crescente desemprego?
Avelar – Não existe possibilidade lógica de crescimento infinito num planeta com recursos finitos. Poderíamos estar numa sociedade em que optássemos por um crescimento zero, há até marxistas falando nisso.
É um debate difícil, porque há uma mentalidade que associa a redução da desigualdade ao crescimento do PIB. Mas não há relação automática entre as duas coisas: pode haver crescimento extremo sem redução de desigualdade e pode haver redução de desigualdade sem ritmo frenético de crescimento.
Claro que para isso teríamos mexer em políticas redistributivas, na dívida pública, no sistema bancário, numa série de vespeiros em que nosso sistema político não está pronto para mexer, mas é uma conversa urgente.
BBC Brasil – A Lava Jato põe em xeque o modelo de relação entre o Estado e empreiteiras?
Avelar – A Lava Jato tem consequências que fogem ao controle inclusive dos procuradores e juízes envolvidos. Não acredito que haja limpeza completa da política brasileira, mas também não acredito que ela vá simplesmente decapitar algumas lideranças do PT, derrubar o governo da Dilma para depois se restabelecer tudo como era antes.
Existe uma nova geração de procuradores imbuída de um espírito que pode ser criticado como meio salvacionista ou messiânico, mas esse grupo claramente não está interessado em pegar lideranças de um só partido político. Alguma coisa se quebrou no pacto oligárquico. Ele vai ser restabelecido, mas em outras bases.
BBC Brasil – Embora milite à esquerda, você não tem apoiado as manifestações em favor da manutenção de Dilma na Presidência. Por quê?
Avelar – A descrição do quadro político brasileiro como uma briga de duas torcidas ante a qual você tem de se posicionar ao lado de uma delas é um quadro não apenas simplista, mas chantagista.
Não cedo à chantagem de que a direita vai tomar poder se não nos alinharmos com a defesa do governo. Em primeiro lugar, porque a direita já está no poder num país em que Kátia Abreu controla o Ministério da Agricultura, em que cargos são regularmente loteados ao PMDB. Há uma coalizão que implementa cotidianamente políticas de direita.
Não bato bumbo pelo impeachment. Acredito que a melhor saída seria a renúncia da Dilma. A situação de descalabro não é só produto da Lava Jato, mas de uma série de fatores, incluindo a inépcia dela em dialogar com a própria base no Congresso.
BBC Brasil – Há uma ofensiva do Judiciário contra o governo do PT?
Avelar – O Judiciário sempre teve a natureza oligárquica e punitivista que está se revelando agora, mas o governismo não se preocupou quando manifestantes contra a Copa ou líderes ambientalistas foram criminalizados, nem com as prisões arbitrárias feitas a rodo nas manifestações de 2013.
O governo não ficou neutro nestas histórias. Ele foi partícipe dessas operações. A draconiana lei antiterrorismo sancionada recentemente foi enviada ao Congresso pelo Executivo, é uma lei da Dilma. Quando alguns desses mecanismos se voltam contra o PT, o governismo grita, mas o PT fortaleceu esses mecanismos ao longo da última década.
BBC Brasil – Diante da fragilização do PT, há margem para a articulação de uma nova frente de esquerda?
Avelar – Sou bastante pessimista. Houve nos últimos 14 anos uma cooptação brutal dos movimentos sociais. O único partido consistentemente à esquerda do PT e com alguma presença no cenário nacional, o PSOL, tem funcionado mais como linha auxiliar do governo do que como alternativa a ele.
Temos algumas faíscas do que poderia ser a esquerda pós-PT, mas acho que vai demorar muito tempo para que ela se reagrupe e faça a crítica necessária da experiência petista. Acho mais provável que a direita clássica volte ao poder e a gente tenha um longo e tenebroso inverno.
Brancos e pretos nos EUA dos anos 60: o dia em que Muhammad Ali ficou sem cachorro quente
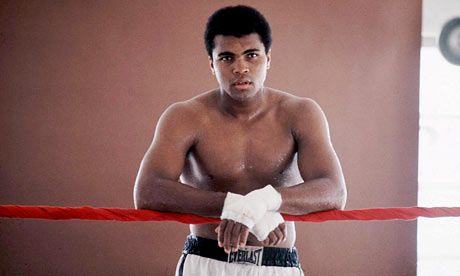
Em cinco minutos, a paciência de Stephen Fry perante a estupidez de Bolsonaro
A risada histérica ao final, que parece se autoelogiar pela estupidez absoluta, é uma das coisas mais apavorantes que eu já vi na vida. Aqui, o contraste com a elegância de Stephen Fry destaca — como caricatura bizarra — a ideologia desprezível desse homem público que em plena era da informação e da tecnologia ainda tem seguidores fiéis e fanáticos, mas a gente vê isso toda hora por aí, em menor escala… pratica-se toda sorte de humilhação contra o outro, depois soca “kkkkkkk” na frente que tá tudo certo, né? NÃO TÁ NÃO.
Somos o mundo que as nossas ideias projetam.
Fabrissa Valverde, em seu perfil do Facebook.
Trecho de um comentário no Youtube:
Não existe homofobia no Brasil
Não existe racismo no Brasil
Não existe abismo social no Brasil
Não existe perseguição religiosa no Brasil…
Eu ainda digo que os que apoiam esse cara são assassinos em potencial…
Enéas de Souza: “O cinema foi minha verdadeira educação”


Enéas de Souza é tão multifacetado que precisamos alertar que esta entrevista não é sobre economia, nem filosofia, nem psicanálise. É sobre cinema. Porém, todas as faces que formam este grande humanista são inseparáveis. Suas críticas cinematográficas jamais deixam de lado o economista, filósofo e psicanalista. Então, o leitor deve reformular o início deste parágrafo. O cinema é apenas o ponto de partida.
Conversar com Enéas de Souza faz o tempo passar rápido. Muito culto, de trato fácil e gentilíssimo, ele fez com que nosso encontro ao final da tarde de quarta-feira fluísse de tal forma que o diálogo foi finalizado, sem que notássemos, em plena escuridão. O pretexto era o cinquentenário de seu livro Trajetórias do Cinema Moderno, publicado pela primeira vez em 1965 e que recebeu várias edições, revisões e ampliações nestas cinco décadas.
Eu possuía a edição original do livro. Enéas viu meu pequeno volume, foi à biblioteca e me presenteou com a última edição. Ela tem o dobro do tamanho do original.
Os leitores do Sul21, acostumados ao colunista Enéas de Souza, talvez estranhem o que seria um lado B do grande economista. Tentei preservar o tom coloquial que mantivemos na sala cheia de livros e DVDs do apartamento do entrevistado.

Sul21 — Como surgiu o livro Trajetórias do Cinema Moderno?
Enéas de Souza — De tanto ver filmes. Na época era assim. Passava um filme. Se tu não o visses duas, três, dez vezes na primeira semana, talvez nunca mais o visses. Às vezes, dois ou três anos depois, vinha uma reprise, mas não era garantido. É curioso, há muitos autores que eu adorava, mas que não estão nesse livro porque eu não tinha condições de revê-los. Hitchcock é um exemplo. Quando o Ruy Carlos Ostermann me convidou pra escrever o livro, eu tinha na cabeça alguns filmes que tinha visto recentemente. Outros não. Por exemplo: o cinema americano – que é uma filmografia de que gosto bastante — não tinha. Como é que eu ia escrever sobre Raoul Walsh, se não conseguia ver muitas vezes seus filmes? Então, era muito difícil escrever alguma coisa. Claro, a grande novidade que o livro possui é a de falar longamente sobre o cinema brasileiro. Na época, escrevia-se muito pouco a respeito. Por exemplo, sobre o Joaquim Pedro de Andrade, que eu gosto muito, não pude escrever porque tinha visto só uma ou duas vezes. Tudo o que é citado no livro veio de memória. Hoje, tu sentas e vê vinte vezes o mesmo filme em todos os detalhes. Na época não dava.
Sul21 – Aos 27 anos tu escreveste o Trajetórias. Eu queria que tu falasses um pouco da tua formação. Me conta como chegaste a ele.
Enéas de Souza — Na verdade eu sempre vi muito cinema, desde pequeno. Minha mãe me levava no cinema quando eu era guri. Meu pai gostava bastante de cinema também. A gente ia junto. Naquela época, as famílias iam juntas ao cinema. Meu pai gostava muito de música, adorava Chopin. Eu lembro que tinha um filme, À noite sonhamos... É uma cinebiografia de Chopin. Acho que o vimos um monte de vezes, porque ele nos levava sempre. A minha avó tocava no cinema mudo, era pianista. Então havia uma cultura cinematográfica na minha família. E eu era um grande vagabundo. Eu não queria fazer grande coisa. E cheguei à conclusão que seria uma boa ideia fazer Filosofia, pois a partir dela poderia pensar tudo, até o cinema. Aí fiz vestibular, passei e logo vi que era mesmo o melhor para mim. A primeira coisa que me inquietou muito foi o fato de que, na época, se dizia que o único pensar era a Filosofia. E eu combatia esta ideia. A obra de arte pensa, a música pensa e, obviamente, o cinema também pensa. Na época, muita gente dizia que cinema não era arte, por incrível que pareça. Foi aí que eu comecei a vincular meu passado histórico de ver cinema, a minha capacidade de poder de interpretar o cinema, à filosofia. Isso me possibilitou ver o cinema de uma forma um pouco diferente. O cinema era uma forma de pensar.

Sul21 — E a crítica?
Enéas de Souza — A critica de cinema em Porto Alegre da minha geração tinha uma presença muito forte nas publicações e na cultura do RS. Tem uma coisa importante nessa realidade: nós, no Brasil, tanto os cineastas quanto os críticos, viemos da literatura. Essa passagem da literatura para o cinema se fez por uma verdadeira pedagogia prática da cinematografia. A gente discutia e debatia muito. A Rua da Praia era um grande teatro de discussão, era a nossa ágora grega de Porto Alegre. A gente discutia no Matheus e na frente do relógio, na esquina da Ladeira com a Rua da Praia. O cinema tinha horários fixos – 14, 16, 18, 20 e 22h – era fácil de se encontrar. Saíamos do cinema e pronto. Eram 6, 7 ou 8 estreias na semana. Nós víamos todos os filmes. Então existia um ambiente cultural muito forte em termos cinematográficos. O Hélio Nascimento escrevia diariamente em jornais, o P. F. Gastal também. Eu escrevia na Revista do Globo. O Gastal abria espaço para nós escrevermos no Correio do Povo e depois na Folha da Manhã. Os outros eram o Goida, o Zé Onofre e outros. A gente vivia de cinema. Era um amor fantástico.
Sul21 – E a economia, como ela entrou na tua vida?
Enéas de Souza — Bem, isso foi muito depois. Na verdade esse período cinematográfico entra 1964 adentro. A derrota das forças políticas de esquerda e a ditadura transformaram a crônica cinematográfica. Ficou muito difícil escrever. Tínhamos muitos filmes que refletiam o movimento mundial de repensar o capitalismo. Descrever isso era um problema. Para tentar entender o que aconteceu com o Brasil, eu fui fazer Economia. Quando eu estava na Filosofia, comecei a ler textos do Celso Furtado. Foi ele quem me abriu as portas desta área. Então eu fiz Economia aqui na UFRGS e depois na Unicamp. Lá na Unicamp eu peguei a ‘’nata’’ dos economistas da época: a Maria da Conceição Tavares, o Beluzzo, o Antonio Barros de Castro e uma série de outros economistas importantes. O próprio Serra foi meu professor. A Unicamp era uma universidade que aproximava alunos e professores, sobretudo quando os professores moravam em Campinas. A gente ia na casa deles. Eu nunca estudei com tanto entusiasmo como nessa época. Fui para Campinas em 77. Em 79, voltei pra cá.

Sul21 – E a psicanálise?
Enéas de Souza — A psicanálise vem ainda depois. A questão da subjetividade não era incorporada nessas análises de economia. Mas me interessavam. Qual era a natureza do sujeito? E a sua expressão? Nada mais próximo da psicanálise do que a expressão, a palavra, o desejo… Todas essas coisas se misturaram, mas eu continuava sempre atento ao cinema, apesar de ter parado um tempo de escrever sobre ele.
Sul21 – Mas, com tantas atividades, a psicanálise não veio como diletantismo, não chegaste lá como autodidata?
Enéas de Souza — Essa é uma história muito curiosa. Eu fui pro Rio de Janeiro porque fora escolhido como diretor da Finep, financiadora de estudos e projetos, que é um órgão que apoia as universidades, a pesquisa universitária e também empresas que fazem renovação em pesquisas tecnológicas. Eu me interessava pela psicanálise, mas não tinha muito tempo nem sequer de ler. Acontece que eu passava tanto tempo em aeroportos, que comecei a ler os livros de Lacan. Quando fui a Paris nos anos 70, conheci Lacan. Eu era um cara da filosofia que gostava dele. Os outros meus colegas o achavam abominável. Assisti as aulas dele por um determinado período lá e achei o cara espetacular, de ideias interessantíssimas. Este amálgama todo me suscitou uma série de questões. Creio que a pessoa que se dedica à filosofia, deve se preocupar com todas as coisas. O movimento em direção à psicanálise e à política foi natural. Eu fui Secretário de Tecnologia, Sub-secretário de Desenvolvimento, mas, olha, te garanto que o cinema foi a verdadeira educação, uma possibilidade imensa de refletir sobre os valores do mundo, sobre as pessoas, sobre as relações humanas, sobre tudo.

Sul21 – Qual é a diferença do teu entusiasmo com cinema nos anos 60 e o que veio depois?
Enéas de Souza — Olha, o cinema tem um olhar e um pensamento muito fortes sobre a realidade contemporânea. Nunca perdi meu entusiasmo, porque através do cinema tu consegues enxergar as tendências que a sociedade está desenvolvendo, o nível das relações humanas, o nível das relações sociais e seus valores, de como eles vão se desenvolvendo. Digamos que o entusiasmo foi variando mas nunca diminuiu. Eu tive uma formação absolutamente singular, porque a minha formação foi Filosofia, mas aí o que é que eu fazia: eu começava a me preocupar sobre o que quer dizer o filme. Lia sempre o Cahiers du Cinéma. Lembro de um filme que me motivou uma grande reflexão, que foi A Marca da Maldade, do Orson Welles. Na revista tinha uma grande quantidade de trabalhos a respeito do filme, aquilo foi extraordinário. Na época em que nós começamos a discutir o cinema, acontecia o seguinte: os filmes levavam seis meses para chegar aqui. Então eu via o filme e eu lia o Cahiers depois. Lendo o Bazin e o Cahiers era inevitável criar uma metodologia de análise. O Cahiers foi a grande fonte. O Bazin foi um critico excepcional, ele tinha uma formação existencialista muito forte e a revista também tinha outros autores, que depois se tornaram grandes gênios do cinema, como Godard, Truffaut, Rivette, etc. Além disso, tinha um companheiro de geração um pouco mais velho que eles, que era o Resnais. Logo saiu o Hiroshima mon amour, que foi um sucesso. Eu lembro que o vi no cinema Ópera, entre a rua Uruguai e a Ladeira. O Hiroshima foi uma coisa de imenso impacto. Tinha uma utilização muito forte da palavra, com aqueles versos recitativos. Para tu imaginares o impacto disso, tens que considerar o contexto: havia filmes de detetive, de faroeste, tudo com muita ação e de repente aparece um cinema altamente poético, com as pessoas verbalizando versos líricos. Nós passamos dias discutindo Hiroshima.
Sul21 – O cinema é ideal como material de discussão. Por exemplo: uma pessoa média leva mais ou menos uma semana pra ler um livro. Um filme tem uma duração determinada e bem mais curta. É mais fácil de eu conhecer um filme em comum contigo do que um livro.
Enéas de Souza — Esta é outra vantagem, claro, a possibilidade de tu veres um filme em duas horas e de teus colegas terem visto mais ou menos ao mesmo tempo. Vimos o Hiroshima, saímos para a rua e havia pessoas discutindo a respeito. Agora, o filme que mais rendeu discussões e debates foi O ano passado em Marienbad, que era geométrico, matemático, cheio de dificuldades. Eu me lembro que, quando terminou o filme, eram mais de 50 pessoas no meio da rua em pequenos grupos. Os mais velhos estavam furiosos dizendo que aquilo era um absurdo. Nós, jovens, entendendo ou não o filme, adoramos.

Sul21 – Tu disseste uma vez que um filme exige muito mais que um romance ou artes plásticas.
Enéas de Souza — Provavelmente, o que eu queria dizer é que o filme tem múltiplas dimensões. Em primeiro lugar, ele é imagem visual. Para tu leres uma imagem visual, para decodificá-la, entender o que está escrito, tu tens que pegar muitos aspectos. A direção, as escolhas, a encenação, a montagem, os cortes. Então é bem complicado. Um filme é roteiro, encenação, filmagem e montagem. Além disso é sonoro, é imagem sonora. E no som tu tens o ruído, as vozes e a música. Ora, para tu captares tudo isso em movimento, a dificuldade é muito grande. Quer dizer: as pessoas muitas vezes se surpreendem quando eu digo que vi dez vezes um filme. Mas como tu viste dez vezes? Não encheu o saco? Eu digo que não, porque eu estou vendo outras coisas no filme. Ou seja, um filme é tão complexo que tu tens que ver várias vezes para entender cada uma de suas dimensões. A apreensão e a inteligibilidade dos filmes são difíceis de assimilar porque o filme passa rapidamente e muitas vezes tu não consegues captar tudo. Quando tu vês pela quinta ou sexta vez, já sabes o que os caras falaram e vês mais diretamente o filme. Então, o que eu estava querendo dizer com isso é que há muitos itens envolvidos, o que distingue o cinema da literatura e das artes plásticas.
Sul21 – O Robson Pereira diz que tu és um sujeito muito musical, mas, nas tuas análises, a música ocupa muito pouco espaço.
Enéas de Souza — Eu sou muito musical na generosidade dele. Voltando ao que eu disse antes: o cinema é imagem visual e imagem sonora, isso tudo ao mesmo tempo. Ele forma um bloco de sensações. Há, no entanto, uma prioridade sensível, que é a imagem visual. O que tu vês é o que te toca mais e a música entra sobretudo para acentuar ou dar o clima. Eu gosto muito de música, mas não tenho capacidade de perceber a música em todos os seus sentidos.

Sul21 – Um critico precisa ver quantas vezes um filme?
Enéas de Souza — Bom, aí é que está. Se tu és um crítico diário, terás uma dificuldade muito grande, porque tu vês uma vez e tem que escrever. O texto será quase um esboço de uma conceitualização. Tu estás no primeiro impacto, o qual é sempre muito forte. Por outro lado, tu não viste tudo. O Sartre dizia uma coisa extraordinária: ‘’A percepção é global e ao mesmo tempo individualizada”. Ou seja, nós apreendemos a cena como um todo e fazemos análises pontuais, só que essas análises pontuais são infinitas, porque vamos discriminando cada questão da imagem. Cada ponto da imagem tem centenas de perspectivas. Quando tu é um critico diário, tu tens somente a ideia principal do filme.
Sul21 – A crítica atual é muito baseada na sinopse, não?
Enéas de Souza — Sim, hoje, os caras descrevem o filme através de sua sinopse. Quanto tu vês um filme, vês o pensamento do autor na forma de imagem sobre determinada ideia, que pode ser a vingança, a saudade, a luta, a morte, o ódio, enfim, todas as temáticas humanas e ontológicas. Cada um fará isso de uma forma diferente. É importante referir-se sobre como essas coisas são mostradas. Como é que as ideias foram desenhadas, figuradas, expressas, encenadas, montadas. Para mim, montagem não é tu cortares o filme, pra mim ela já começa quando tu fazes a escolha do ângulo. A montagem é uma seleção. Eu seleciono o teu rosto, seleciono um objeto. O discurso narrativo em imagem e o som trazem a ideia. Um diretor botou uns ovos na cena… Bem, mas o que significam os ovos? E ele respondeu: não sei, botei porque senti necessidade de colocá-los ali naquela cena. E o que é a critica? A critica é tu desmontares essa máquina e ir além do que o cara pensou racionalmente, porque ele fez aquilo num impulso artístico. A grande virtude do crítico para o artista, é a de iluminar aquelas zonas das quais o artista não tem plena consciência de seus motivos. A mesma função tem o crítico para os espectadores. Tu vais ver um filme, tu sentiste o filme. Tu gostaste, não gostaste, não importa. Mas tu sentiste o filme. Mas tu não sabes muitas vezes teus motivos e o crítico pode te ajudar a dizer: olha, eu gostei por causa disso.

Sul21 – Tu gostas muito de cinema francês, não?
Enéas de Souza — Eu gosto do cinema que acho de boa qualidade. Eu não tenho uma prioridade nacional. Obviamente, eu gosto do cinema brasileiro. Nosso cinema tem nossa maneira de sentir o mundo, traz nossos valores. Por exemplo, um filme como Tatuagem é tremendamente sarcástico, extremamente zombeteiro, debochado e é extraordinário como cinema. Claro, provavelmente ele me toca desse jeito porque sou brasileiro, mas não quer dizer que não seja bom. É excelente. Sobre o cinema francês: Godard me toca muito. É um artista que está permanentemente refazendo ou ampliando o que fez. Seu último filme, Histórias do Cinema, me deixou embasbacado. O filme é feito em vídeo e nele é repensada toda a história do cinema, assim como a história do século XX. São oito divisões onde ele faz uma revisão do cinema e diz que o cinema é ressurreição. Há um momento extraordinário quando ele mostra o filme de King Vidor Duelo ao Sol. Este filme tem uma cena final em que é mostrada a incompatibilidade total dos dois personagens, que ao mesmo tempo se amam e se odeiam. E eles morrem amando-se. Godard pega a cena e corta e corta. Então a cena dá saltos, numa imagem cinematograficamente diferente da que criou Vidor. E, ao mesmo tempo, ele acrescenta uma cor mais vermelha, de paixão, de sangue. Há uma ressurreição na imagem que é reinventada.
Sul21 – Tu falaste no cinema brasileiro. O que tu tens a dizer a respeito desses filmes nordestinos que vieram agora e que de certa forma, na minha opinião, contrapõem-se ao estilo da Globo Filmes. Me fala um pouco sobre isso.
Enéas de Souza — É, eu acho que o cinema pernambucano está em grande movimentação e tem grande presença no Brasil. Eles têm a capacidade de fazer filmes diferentes, filmes distintos, que mostram grande pujança. Por exemplo, o caso do filme Som ao Redor. O filme é absolutamente extraordinário. Ele mostra a transformação da sociedade pernambucana a partir de uma determinada situação numa rua do Recife onde a expansão do capital imobiliário é fortíssima. E aquela rua começa a ter problema de assaltos. Os caras não são donos do capital imobiliário, estão a reboque do mesmo. E, na verdade, são as pessoas que vieram do engenho. O filme vai fazendo a desmontagem da gênese pernambucana do engenho. É o que Gilberto Freyre escreveu. E tu vais moldando a compreensão do que é Pernambuco. E isso se contrapõe à Globo no seguinte sentido: a Globo tenta uma estética, vamos dizer assim, bonita. Ali o Brasil é um país maravilhoso, cheio de pequenos melodramas, mas no fim todos somos felizes, somos todos vencedores.

Sul21 – Tu viste ‘’Que horas ela volta?’’
Enéas de Souza — Ah, pois é. Tem tudo a ver. Vi sim e gostei bastante. Não gostei da história, que é muito ‘’dilmista’’. Ela defende a ideologia que se aplicou recentemente: a de que os pobres que melhoraram de vida são classe média. Isso é uma mentira. Não existe isso. Agora, o trabalho da diretora é espetacular, tanto pictórica quanto cinematograficamente. Mas a história não me tocou de jeito nenhum. Gostei do trabalho de direção. A produção também é complicada. Por exemplo, os quartos: tu nunca vês as coisas completas, é tudo fragmentado. Qual é o tamanho dessa sala? Eu posso fazê-la pequena ou grande, eu posso fechar o plano, abrir o plano. Os personagens dizem suíte, mas a gente não vê a suíte.
Sul21 – Tu vais ao cinema ou vês filmes preferencialmente em casa? Como é que tu te relaciona com o DVD, o Netflix, etc.
Enéas de Souza — Para mim, cinema é tela grande e sala escura. Esse é o princípio geral. Agora, eu não tenho nenhum problema de ver em casa. Às vezes tu tens que ver em casa porque tu não tens condições de ir ao cinema ou o filme não chegou ao cinema. É claro que tu tens que ter uma capacidade de imaginação além do filme para sentir o impacto do trabalho. Me lembro que a primeira vez que eu vi em DVD aquele filme do Kubrick, 2001: Uma Odisseia no Espaço… Lembrava muito bem dos sentimentos que eu tive vendo aquele inicio com a música de Richard Strauss e todo aquele balé. Mas quando eu o vi na televisão, fiquei demolido. Felizmente eu percebi que era por causa da tela, não por causa do filme. Então tu tens que recompor o filme, pensar em qual o impacto que o diretor quis dar. Uma vez, eu tive uma discussão com o Goida. Ele era hostil aos VHS naquela época. Porque, além de tudo, o VHS deformava a cor e eu dizia para ele que preferia VHS – em que pelo menos tinha um vislumbre do que era o filme. Tem uma história que eu acho fantástica. Um escritor adorava uma cena de um filme de Fritz Lang. Aí foi ao cinema e a cena não existia. Ou seja, ele construiu outro filme. Nós reconstruímos filmes. As imagens vão ficando na cabeça da gente e… Assim como tu reconstróis o teu passado, tu reconstróis também os filmes que não consegues rever, que tu não viste há muito tempo. Quando ele escreveu isso, eu já tinha meio que percebido, mas não tinha conseguido transformar em palavras. Depois que eu li, pensei: pô, é isso mesmo! Então, é melhor tu teres um filme em DVD do que não teres. Mesmo antigamente, eu preferia ver o VHS do que ficar imaginando o filme. É mais fácil tu imaginares como o filme era a partir do esboço que aparece na tela do que simplesmente imaginar. A memória vai deformando. São raras as pessoas que têm essa memória com precisão.

Sul21 – A primeira vez que eu vi o filme ‘’O Cavalo de Turim’’ foi em DVD. Achei um filme menor. Depois quando eu vi lá na sala P.F. Gastal mudou tudo. Ele tinha todo um ritmo que me escapara.
Enéas de Souza — É, claro. E acontece o contrário, se tu viste muitas vezes o filme no cinema e depois vês novamente em DVD, é necessário recompor aquela imagem geral. Mas eu acho isso que é um problema da nossa geração, porque essa nova geração não vê muitos filmes em cinema, eles veem ou em DVD ou baixam o filme. Por exemplo: tu pegas um celular. Claro, ali tem a imagem, mas o tamanho da imagem é fundamental no cinema. Mesmo que o celular reproduzisse proporcionalmente o tamanho da tela, o impacto daquela fração do espaço da imagem em ti é diferente quando tu vês num celular ou quando tu vês num cinema. Além do mais tem a coisa do ritual. As pessoas mais velhas têm essa experiência. Uma cena de sexo, uma cena de guerra… Há emoções que tu só sentes literalmente quando estás no cinema. E também há a emoção de quem está a teu lado. Ela se transmite. O cinema é outra realidade, outro mundo.
Sul21 – Posso te fazer uma sacanagem? Se tu fosses para uma ilha deserta, o que tu levarias? Eu serei um carcereiro bonzinho, vou te dar uma sala de cinema particular e tu vais poder levar bastante coisa.
Enéas de Souza — É, isso é complicado. Com direito a me arrepender, eu levaria… Bem, levaria filmes de vários autores. Por exemplo, o Hitchcock tem vários filmes maravilhosos, mas pra mim o Vertigo [Um Corpo que Cai] é excepcional. Eu levaria uns quatro ou cinco dele, mas, se tivesse que levar um, levaria Vertigo. Eu levaria Hiroshima, mon amour. Talvez a nova geração não goste muito dele, mas para minha geração foi uma marca extraordinária. É um pensamento de uma realidade que eu vivi e foi maravilhosa. Eu levaria. Acho que, levaria algum filme do Tarantino. Seja Django ou Kill Bill, que acho um belíssimo filme. Do cinema brasileiro eu levaria o Glauber, Terra em Transe, um filme fundamental para a minha geração. É o único filme do Glauber de que eu gosto muito, porque marca exatamente o que se passou na época do golpe. Todo aquele movimento, aquela pouca inteligibilidade, aquele não entendimento entre os diversos grupos sociais. E, ao mesmo tempo, o fracasso das relações humanas, a dispersão social, enfim, esse filme é extraordinário. Eu levaria Histórias do Cinema, de Godard. Também A Estrada Perdida, de David Lynch. Um que tu deves amar é Don Giovanni, de Joseph Losey, baseado na ópera de Mozart, um filmaço.

Sul21 – E O Criado?
Enéas de Souza — É mesmo! Eu vi esse filme em Paris e logo fui visitar a Inglaterra. Casualmente, entrei num restaurante e percebi como é que funcionavam as coisas na Inglaterra. Um senhor chamou um garçom para pedir um cigarro, deu dinheiro para o cara. Nesse restaurante tinha um quiosque, mas o garçom demorou a entregar a encomenda. Eu estava bem na frente no comprador e consegui ver todos os gestos do cara. Depois de uns 10, 15 minutos, ele começou a procurar o garçom com os olhos e este, que estava longe, percebeu. Então ele se apressou, foi ao quiosque, comprou o cigarro e veio trazer para o cara que estava inquieto. Ele chegou perto do comprador, fez um gesto super gentil, da mais alta classe, abriu uma caixa, botou um cigarro para fora e disse uma frase gentilíssima. É o filme do Losey. O garçom, na verdade, é quem manda e organiza as coisas, se quiser. Ou seja, eu tinha visto o filme ontem e fui para a Inglaterra. Quando cheguei lá, o filme se repetiu.
Sul21 – Voltemos à lista.
Enéas de Souza — Bem, Bergman. Sarabanda é um filme notável. Persona eu acho muito bom. Para dizer a verdade, eu gosto de quase tudo do Bergman. Um grande filme é O Circo, que é uma das obras que mais me impactaram. Mas levaria Persona. E quase todos os outros. [risadas] Eisenstein, apesar de eu achar que é um cinema muito elitista, também é um cinema com um trabalho formal absolutamente notável. Ele é brilhante. Eu levaria também algo do Howard Hawks. O cinema americano tem um lado negro, a questão da justiça. Como é que se impõe a lei. O Tarantino pega um pouco disso. Django é um exemplo. Este filme pergunta: como é que se instaura a lei numa terra sem lei, onde a violência e a prepotência mandam.
Sul21 – Nem entramos na França e na Itália…
Enéas de Souza — Alguns filmes do Truffaut… Eu acho Jules et Jim admirável. Visconti… Morte em Veneza é genial. Eu vi o “making of” dele. São pequenos detalhes que transformam o filme, tornando-o brilhante. Do Fellini… A Doce Vida e Oito e Meio são filmes que eu certamente levaria.

Sul21 – Meu deus, e Antonioni?
Enéas de Souza — Eu sou vidrado no Antonioni. A Aventura é um dos maiores filmes que vi. A cena final entre a Monica Vicci e o personagem masculino é brilhantérrima, porque o cinema se faz com pequenos gestos e ali são os gestos que vão construindo a narrativa. Tu vais sendo envolvido por aquela dimensão sensível que te emociona profundamente. Aquela cena final é brilhante. Gosto muito de A Noite e de O Eclipse. Antonioni foi um tremendo cineasta. Gosto também do Bertolucci. Os Sonhadores é muito interessante e Beleza Roubada é muito bom também. A relação de um cara que tem AIDS e de uma menina que busca saber a sua origem. Manoel de Oliveira… Acho esplêndido o Cinema Falado. A carta também. Mas, voltando para o Brasil… Gosto do João Moreira Sales, do Eduardo Coutinho. O Moreira Sales tem dois filmes extraordinários, que é Nelson Freire e Santiago, que é um filmaço. Do Coutinho, o Edificio Master é muito bom. Eu levaria este ou o Cabra, que também é muito bom. A capacidade que o Coutinho tem de pensar o cinema, as relações entre diretor e entrevistado, é impressionante. E como ele tem empatia e, ao mesmo tempo, uma certa distância para com os personagens. O Últimas Conversas tem aquela cena final com a menina. De repente brota alguma coisa entre os dois. O Coutinho estava enfadado daqueles adolescentes e a menina altera completamente o contexto. Ela é altamente espontânea e o final é brilhante, porque ele vai se despedir dela com um aperto de mão e ela bate na palma da mão dele como no esporte. Aquilo é completamente imprevisto. Surge dali uma dimensão poética emocional lúdica, algo surpreendente e eles seguem. Ele tem essa capacidade de captar um instante e aproveitar isso. Então eu gosto muito dessa cena, sobretudo.

Sul21 – O que faz o crítico em meio a toda esta opulência cinematográfica – falo de qualidade e quantidade.
Enéas de Souza — A dificuldade do critico do cinema é que tu não consegues ver tudo de todas as filmografias. Por exemplo: sei muito pouco do cinema africano, do cinema asiático idem. E mesmo do cinema latino-americano! Eu me lembro da primeira vez que fui à França, no final dos anos 60. Eu vi um monte de filmes que eu jamais tinha ideia que existiam, era o cinema do leste europeu. Havia filmes fantásticos dos quais eu não tinha nenhum conhecimento. Tem uma coisa que o Borges diz que acho curiosa e que, bem, quem sabe?: “Provavelmente o grande escritor do século XX seja alguém do meio da África que nós nem sabemos quem é e que refletiu melhor o século XX do que nós fizemos até hoje”. Hoje eu vejo alguns filmes notáveis e penso se não serão eles os grandes filmes que vão marcar nossa época.
Sul21 – As mudanças de suporte podem criar outros clássicos com rapidez nunca vista.
Enéas de Souza — O cinema é tecnologia e essas transformações tecnológicas mudam completamente a realidade do cinema. Hoje há essa capacidade de ver cinema no youtube, no celular, é tudo diferente. Há uma dispersão na reprodução. A questão do cinema é MUITO mais do que a encenação, é o que significam as imagens. Nós estamos em uma época muito complexa – e que ficará ainda mais dispersa e complicada – e é difícil imaginar o que vai atravessar nossa época. Lembro que achava alguns filmes maravilhosos, mas, com o passar do tempo, eles foram esquecidos, não sei se para sempre.
Com 500 euros e um megafone, ex-militante do PT disputa prefeitura em paraíso italiano


Publicado no Sul21 em 14 de março de 2015
(Como acabou? Ele foi eleito para um cargo correspondente ao de vereador em sua belíssima cidade).
Flavio Prada é um arquiteto brasileiro de origem italiana que concorrerá, em maio, à prefeitura da paradisíaca Riva del Garda, na Itália, pelo Movimento 5 Estrelas de Beppe Grillo. Para quem acompanhou o crescimento dos blogs no final da primeira década do século XXI, Prada é o célebre criador do blog Lixo Tipo Especial, hoje desativado. Em seu blog, Prada liberava seu espírito crítico na forma de devastadoras enxurradas de zombaria e sarcasmo sobre as políticas brasileira, italiana e europeia.
Com o blog fechado há mais de cinco anos, Prada pouco a pouco desapareceu da cena brasileira, porém, na Itália, seguiu trabalhando profissionalmente com arquitetura, amadoristicamente em seu grupo de rock, e com política, onde não ocupou nenhum cargo eletivo. Até agora.
Entrevistamos Flavio a fim de compreender sua trajetória desde os tempos da fundação do PT, ainda no Brasil, passando pelos blog e chegando a atual candidatura. No Lixo, nosso entrevistado costumava fazer Entrevistas Transoceânicas com seus leitores brasileiros. Vingamo-nos.
Sul21: Tu és reconhecido um italiano ou como um brasileiro na Itália?
Prada: Alguns pensam que eu sou de Gênova, porque meu sotaque é meio parecido com o genovês. Sabe como é, às vezes você solta um sotaque mais forte, principalmente quando muito cansado. Mas alguns nem percebem que sou estrangeiro. No filme que fiz para a campanha, explico a trajetória familiar da Itália para Limeira (SP) e meu retorno, por assim dizer, para a Itália, em 2001. Meu italiano é bom, então não tem muito problema. Mas o povo daqui é muito bairrista, então é melhor deixar tudo explicadinho.
Sul21: O que tu fizeste, do ponto de vista político, no Brasil?
Prada: Certa vez, em 1980, eu participei de uma festa na casa do (ex-senador Eduardo) Suplicy. Era um dos primeiros encontros que se fazia com a intenção de, talvez, criar um partido chamado PT. Depois, eu sempre militei pelo PT. Militei muito em Limeira, menos em São Paulo, mais em Florianópolis, até que vim para a Itália, em 2001.

Sul21: Tu começaste imediatamente a militância aí no norte da Itália?
Prada: Nos primeiros anos estava tentando me situar tanto profissional quanto politicamente. Há muita diferença, principalmente na legislação. É óbvio que eu mantinha grande afinidade com os partidos de esquerda. O problema que ocorreu aqui e que está começando a acontecer no Brasil, é que, com a chegada ao poder, os partidos vão se descaracterizando, toda a ideologia vai perdendo o sentido. É por isso que estou mais critico em relação ao PT, inclusive. Hoje, o partido está aliado com o (Fernando) Collor, (José) Sarney, (Paulo) Maluf. São coisas que, se eu dissesse há 20 anos atrás numa reunião nossa, alguém me declararia como louco ou piadista de mau gosto. Mas hoje é uma realidade. A esquerda, nos 15 anos que estou aqui, sofreu o mesmo fenômeno.
Sul21: O PT da Itália é o PD?
Prada: Aqui nós temos o Partido Democrático de centro-esquerda e os partidos mais radicais, mais tradicionais, comunistas. Há três partidos que são comunistas, além dos verdes. Este último grupo tem menos de 1% de eleitores, estão desaparecendo. Realmente, o PD (Partido Democrático) é o mais próximo do PT brasileiro. Mas estão fazendo um governo com o (ex-primeiro-ministro Silvio) Berlusconi, o que é uma coisa inimaginável, um absurdo. Em nome da governabilidade, em nome de você administrar o teu condomínio, você chama o estuprador para cuidar dos filhos. É o que está acontecendo. Essa transformação da esquerda, com fenômenos de corrupção estourando em todos os níveis, começaram a aparecer no momento em que esses partidos, que eram de luta, chegam ao poder. O problema é o poder.

Sul21: Tu te filiaste a algum partido além do Movimento?
Prada: Eu primeiro me inscrevi num partido de centro-esquerda, mais de centro que de esquerda, chamado Italia dei Valori. O “valor” do nome não é o econômico, é o valor ético, a moralidade. Surgiu outro parecido, só que claramente de direita, com aquela legalidade nacionalista. Então, quando eu estava no Italia dei Valore, assisti ao crescimento do Movimento 5 Estrelas, que nasceu dentro de um blog. Eu e muita gente acompanhávamos o blog do Beppe Grillo e o movimento. O que aconteceu com o IDV? Ora, o partido, que detinha 7% de preferência, hoje está com 0,5%. Morreu. Por que morreu? Porque a gente vinha pregando a moralidade e em um certo momento se descobriu que a cúpula do partido pegava milhões de euros para comprar apartamentos, aumentando seus patrimônios pessoais. Ou seja, o próprio partido que a gente acreditava como uma reserva ética, roubava a dar com pau. Então, foi mais do que natural que praticamente todo o pessoal do IDV fosse para o Movimento 5 Estrelas.

Sul21: A imagem que se tem do 5 Estrelas no Brasil é a de um bando de loucos chefiados por um humorista.
Prada: É exatamente isso. É que numa sociedade doente como a nossa, a gente tem orgulho de ser louco. O Beppe Grillo é um humanista cômico. Faz mais de 30 anos que atua. Começou na televisão. Depois, no teatro, fazia sempre um humor meio desesperado. Ele faz sátira política no estilo de Voltaire. Às vezes é muito simples. Ele apenas lê as noticias e faz o pessoal rir porque deixa às claras a demência que a gente está vivendo. Aqui e no Brasil também. Ele fazia isso na TV até o momento em que começou a criticar o Partido Socialista, que estava no poder em 1992. Houve também uma piada sobre chineses… Mandaram ele embora. A partir daí, ele foi para o teatro. Ele encheu qualquer ginásio de esportes nesses últimos 20 anos. O tema de Beppe Grillo é a loucura que estamos fazendo com o ambiente, com as energias renováveis, e a corrupção geral.
Sul21: Mas como ele fazia tanto sucesso falando desses assuntos?

Prada: Ele falava isso de maneira teatral. O personagem dele é aquele cara que está desesperado com a situação. Ele fala muito seriamente enquanto você morre de rir, porque é a realidade. Ele te joga a realidade na cara. Quando surgiram os blogs — ele abriu o dele em 2005 –, os temas eram esses aí: o ambiente, o que nós estamos fazendo com a política, os políticos e a atuação política. Em 2007, ele fez uma provocação que relancei no meu blog, lembra? Foi o Vaffanculo–Day ou V-Day (literalmente, Dia de mandar tomar no cu). Ele não imaginou que permaneceria no centro das atenções só com o espaço do blog, mas permaneceu. Cada post dele recebia mil comentários e 300 mil views. Então ele falou: “Nós já somos tantos que poderíamos nos reunir numa praça para uma manifestação. Afinal, nós somos os idiotas que trabalham, que pagam impostos, contas. Estamos isolados, quietos, sem voz, sem representatividade”. Aí ele criou o Vaffanculo–Day. Mas a mídia tradicional não deu notícia do fato. Aí, no ano seguinte, ele fez mais outro, com 100 mil pessoas na praça. Quando a mídia começou a boicotar, ridicularizando a iniciativa, deu para perceber quem estava no caminho certo.
Sul21: A situação da mídia italiana é análoga à brasileira, não?
Prada: É muito parecida. Na mídia italiana, existe um único jornal que é independente e autônomo, o Il Fatto Quotidiano. O resto vive de subvenção do governo. A imprensa ajoelha-se aos pés do poder. Como eu dizia, não houve nenhum tipo de notícia decente sobre o Vaffanculo–Day. Então o Beppe fez uma coisa. Ele se inscreveu no PD para ser o primeiro-ministro… Estavam acontecendo as primárias do Partido Democrático para a escolha exatamente do candidato a premier. Isso foi em 2009, 2010. E o barraram. Não houve nenhuma alegação, só disseram que não podia. Um representante do PD foi para a televisão e soltou a frase histórica “Se o Beppe Grillo quer entrar na política, ele que faça um partido dele e vamos ver quantos votos ele vai ter”. Aí ele falou: “É. Boa ideia”.
Sul21: (risadas)

Prada: Ele fundou uma semana depois o Movimento 5 Estrelas, que tem cinco pontos fundamentais: ambiente (não ao nuclear, sim às energias alternativas), água (propriedade pública), desenvolvimento, conectividade e transportes. São cinco pontos que depois se desdobram. E se criou um programa, o “não-estatuto”. Beppe Grillo foi o aglutinador de um movimento que nasceu na rede. A mídia tradicional, que trabalha sempre com estereótipos, diz que o Beppe Grillo controla tudo, mas ele não controla absolutamente nada. O processo interno é absolutamente democrático, não existe nenhuma interferência, nenhuma determinação para os programas que criamos. Dentro da linha do movimento, a gente faz o que quer.
Sul21: E o desemprenho eleitoral?
Prada: Pois é. E o 5 Estrelas foi para as eleições. Primeiro, fez alguns vereadores. Agora, em 2013, fizemos 160 parlamentares. São 140 deputados e 20 senadores, mas alguns pularam fora porque uma das regras é cortar a metade do salário. Um parlamentar italiano ganha por volta de 100 mil euros anuais, o que, comparando com outros países da Europa, é demais. Nós pegamos esses 100 mil euros e colocamos a metade em um fundo. Com esse fundo, estamos abrindo um programa de microcrédito para pequenas e médias empresas que estão em dificuldades. Tem lá uns 20 milhões de euros só com a renúncia de salário. Isso é grana que pode fazer alguma diferença, além de ser uma questão filosófica.
Sul21: E onde é que o 5 estrelas se colocou no governo atual?
Prada: Fora. O que aconteceu foi que a Itália está debaixo de um regime europeu comandado pela Alemanha e os bancos. A grande dificuldade de países como Grécia, Itália, Portugal, Espanha é que são países que tem uma outra cultura, a do “dar aqui para receber ali”. Todos têm um grande nível de corrupção, só que o que está acontecendo é que o remédio está matando o paciente. Com a política que a Europa está impondo a esses países, a corrupção aumentou. A classe política sabe que a festa está acabando, então, para se proteger do futuro, deita e rola. A corrupção explodiu de tal forma que não há mais vergonha de se associar ao Berlusconi. Está tudo aberto, tudo descarado, pois é nesse contexto que os presidentes tem poderes para se garantirem.

Sul21: E como será a eleição para a prefeitura de Riva del Garda? Tens chance?
Prada: Nenhuma. (risos)
Sul21: Então de que valeu esta entrevista?
Prada: Não sei. Problema teu. (risos) Bem, falando sério: não tenho nenhuma chance. Minha campanha teve um investimento de 500 euros. Quando nos reunimos para escolher o candidato, foi aquele silêncio. Então, escolheram o mais louco, o mais improvável. Mas é uma candidatura válida porque este paraíso que é Riva, principalmente na região da beira do Lago de Garda, está sendo absurdamente loteado. Comprei um megafone e ando pela cidade, dando meu recado.
Entrevista com Roberto Markarian, Reitor da Universidad de la República, do Uruguai


Chamar o Brasil de “Pátria Educadora” parece uma anedota, principalmente se compararmos nossa situação o aquilo que se faz há mais de um século no vizinho Uruguai. Com uma secular tradição de educação laica, gratuita e obrigatória, implantada pelo reformador José Pedro Varela (1845-1879), o Uruguai hoje está na ponta de lança da educação latino-americana. Na longa entrevista que segue, começo por uma curta biografia de Roberto Markarian Abrahamian, de quem sou amigo, e depois envereda pelos detalhes da universidade e da educação uruguaia de uma forma geral.
Conheci Roberto Markarian em Porto Alegre, quando estudava engenharia e ele era estudante do Curso de Matemática da Ufrgs, logo após os sete anos em que esteve preso pela ditadura uruguaia. Na época, ele era do Partido Comunista.
Não obstante o fato de sermos estudantes da área de exatas da mesma Universidade e de estarmos, por assim dizer, em trincheiras ideológicas muito próximas, nossa amizade mantinha-se mais pelo amor ao cinema, à música e à literatura. Demorou muito para eu saber que meu amigo era um matemático brilhante que, poucos anos depois, teria destaque mundial em sua área.
Neste ano de 2015, após quase meia década sem contato, tive de escrever sobre os 100 anos do genocídio armênio. E, já que Markarian é filho de armênios que fugiram da perseguição turca — há ainda um Abrahamian em seu nome — consultei sem maiores objetivos seu nome no Google, fato que me fez dar de cara com uma série de fotos de meu amigo com o presidente José Mujica. O que teria acontecido? Do que não me informaram?
Markarian é um sujeito amável e tranquilo, dono de uma respeitável e variada erudição. Nela, curiosamente, nunca coube o futebol e ele reclama que muitas vezes é confundido com o irmão Sergio, famoso treinador que já comandou, por exemplo, as seleções do Paraguai, Peru e Grécia. Roberto é chamado por Sergio de “o irmão inteligente”, enquanto Sergio, no dizer de Roberto, seria “o irmão famoso”.
Markarian tem pelo menos oito livros publicados e dezenas de artigos que refletem seu trabalho como pesquisador. Até sua eleição como Reitor, investigava principalmente as propriedades não uniformes dos sistemas dinâmicos. Com a modéstia habitual, como se fosse algo comum, ele diz ser difícil alguém estudar o tema sem se referir a seus trabalhos. Para os leigos, trata-se de movimentos semelhantes aos de bolas movendo-se numa mesa de bilhar, sem atrito. Tais movimentos acabam por enquadrar-se em algumas definições de caos e têm aplicações na área tecnológica.
Bilhar? Markarian adverte que esteve apenas duas vezes inclinado sobre o pano verde. No entanto, conta que recebe rotineiramente publicidade de fabricantes de mesas de bilhar. Além de propostas para treinar times de futebol.
Agradeço à Elena Romanov, minha violinista favorita que se travestiu de fotógrafa, e aos professores Nikelen Witter e Éder Silveira, que me sugeriram algumas perguntas que talvez não me ocorressem.
.oOo.

Milton Ribeiro – Gostaria que tu descrevesses resumidamente tua atividade política e acadêmica até aquele período em que te conheci, no início dos anos 80.
Roberto Markarian – Comecei a estudar engenharia quando tinha 17 anos. Apesar de ir bem nos estudos, vi que a Engenharia não era minha vocação e fiquei na dúvida entre ir para a Geologia ou para a Matemática. Então eu visitei os dois institutos e decidi que a matemática era um bom lugar para mim. Obtive lá uma pequena posição de horista. E comecei a estudar dedicadamente matemática. Uns 4 ou 5 anos depois, entre 1968 e 1970, fiz um concurso para entrar como docente. O concurso era de nível de mestrado. E ganhei a posição mesmo sem ter qualquer outro título. Era outra época. Por exemplo, o maior matemático do Uruguai, José Luis Massera, não foi mestre em matemática, ele só tinha o diploma de engenheiro. Na época do concurso, eu já estava envolvido com a política. Entrei na escola de engenharia num ano e, no ano seguinte, era o secretário-geral do Grêmio Estudantil da Engenharia (CEIA). Era uma turma muito estudiosa, tentamos várias vezes expulsar professores ruins, mas acabamos renunciando após algumas derrotas…
Milton Ribeiro – Tu chegaste a assumir como docente ou não?
Roberto Markarian – Sim, assumi e comecei a dar aulas. Eu vivia disso. O dinheiro era bastante razoável. Quando veio a ditadura, em 1973, eu estava completamente envolvido com a atividade acadêmica e política, integrando a direção da juventude comunista. Também ocupava um cargo na Federação dos Estudantes (FEUU) e tinha sido membro do comitê de mobilização no agitado ano de 68. Acabei preso em 76 por minhas atividades no âmbito político. Fui processado e estive na prisão por 6 anos e 8 meses contínuos, mas já estivera lá outras vezes, entre 69 e 73, por um total de 4 meses.

Milton Ribeiro – Tu achas que a participação e a atuação política dos estudantes colaboram com a modernização educacional? Porque no Brasil, existe a política estudantil, a Universidade e há os professores, que costumam ficar alheios.
Roberto Markarian – Aqui no Uruguai, a influência do movimento estudantil foi e continua sendo muito forte. Por exemplo: a lei orgânica que regula o sistema universitário público, não existiria se não fosse pelo movimento estudantil. As formas educacionais são elaboradas pelos docentes, mas muitas coisas foram promovidas pelo movimento estudantil e continua sendo assim. Por exemplo, há uma influência muito forte dos estudantes nas eleições das autoridades das escolas. O sistema uruguaio é muito aberto, os estudantes têm influência real no corpo universitário. É difícil que uma autoridade importante seja eleita com oposição estudantil. No meu caso, na eleição de Reitor, eles se dividiram, mas tiveram participação ativa. Dos 105 votantes, 30 são estudantes. Eu diria que movimento estudantil tem uma influência muito grande, mas menor do que a que teve entre os anos 50 e 70. Depois da ditadura e modernamente, todo o sistema de influência democrática no mundo foi alterado, não só o do Uruguai. Mas os estudantes são sistematicamente ouvidos sim.

Milton Ribeiro – E tua vida depois da prisão?
Roberto Markarian – Depois de sair da prisão, decidi ficar no Uruguai por problemas familiares. Muita gente que saía da prisão saía do país também. Não foi o meu caso. Ficamos, eu, minha mulher na época e minha filha morando aqui e eu decidi que deveria continuar sendo matemático. Claro que perdi meu cargo em 1976, mas o recuperei em 85, quando voltou a democracia. Voltei ao mesmo cargo e ao mesmo nível que tinha na época anterior, quase dez anos antes. Então, meu amigo Marco Sebastiani e a professora Gelsa Knijnik me convidaram a ir para a Ufrgs. Eu fiz vestibular como se fosse um iniciante, consegui depois equivalência de algumas cadeiras. Eu tinha dificuldades para conseguir a equivalência porque estávamos ainda na ditadura. Os documentos me fugiam. Eu ficava viajando entre Montevidéu e Porto Alegre, dava e recebia aulas. Fazia provas e mais provas. A cada viagem, tinha que pedir autorização à polícia. Eu dizia sempre que ia visitar Marco Sebastiani e me autorizavam. No início, ficava na casa dele, depois na casa de outro grande amigo, Alejandro Borche Casalas. Nem tinha terminado o bacharelado e, simultaneamente, comecei a trabalhar na tese de mestrado. Em pouco tempo, dois anos, finalizei a graduação e o mestrado, tudo na Ufrgs. Então o pessoal do Impa, do Rio de Janeiro, ficou sabendo que tinha aparecido um cara com um trabalho grande de mestrado e com resultados interessantes — na verdade, meu trabalho foi publicado por uma importante revista — e me convidaram para ser aluno do Impa. E comecei a estudar lá no ano de 88. Doutorei-me em 1990. Foi tudo muito rápido. Entre 85 e 90, eu recebi três títulos: de bacharel, mestre e doutor.
Milton Ribeiro – Sempre indo e vindo, entre Brasil e Uruguai.
Roberto Markarian – Sim, fiz o mesmo sistema de ir e voltar. No Rio de Janeiro, morei menos de dois anos, foi o período que eu fiz cursos e a tese de doutorado.

Milton Ribeiro – Tu és um matemático muito respeitado. Quais são teus principais trabalhos?
Roberto Markarian – A disciplina a que mais me dediquei chama-se Dinâmica Caótica. É o estudo matemático da desordem. Há modelos simples de sistemas dinâmicos chamados de bilhares caóticos. Trata-se do estudo matemático dos movimentos desordenados. Nesta área, eu escrevi um livro, que só posso chamar de importante, com um colega russo chamado Nikolai Chernov, falecido faz pouco tempo. Trabalhamos a partir de modelos simples de movimentos desordenados e chegamos a resultados consistentes. Nosso trabalho foi publicado numa coleção de monografias da American Mathematical Society. O título é Chaotic Billiards. Publiquei outros livros, em parceria ou não, que serviram como preparação para este principal com Chernov.
Milton Ribeiro – Como foi teu contato com Chernov?
Roberto Markarian – Ele trabalhava em Moscou. Os principais estudos da área, naquele momento, vinham de Moscou. O grupo principal estava sediado lá com Chernov e seu chefe Yakov Sinai. Eu propus um pós-doutorado em Moscou, fui aceito, e viajei pouco tempo depois. Conheci Sinai e passei a trabalhar com Chernov, que estava no Centro Nuclear de Dubna, que fora criado pouco depois da 2ª Guerra Mundial por Stalin. Era o local de desenvolvimento de pesquisas nucleares para todos os países socialistas. A cidade fica a 110 km de Moscou, às margens do Volga. Chernov trabalhava no Centro Nuclear. Passei quase um mês morando com ele, fazendo matemática.
Milton Ribeiro – Eu imagino que esse teu trabalho com Chernov seja muito citado em trabalhos acadêmicos. Qual é a importância dele?
Roberto Markarian – Qualquer pessoa que queira estudar os elementos básicos da dinâmica caótica vai usar nosso livro como uma de suas principais referências. Eu não estava muito convencido disso, mas ultimamente, já como Reitor, fui a duas ou três grandes reuniões, uma delas em homenagem a Sinai, que tinha recebido o Nobel de matemática, o Prêmio Abel, concedido pelo noruegueses no valor de quase 1 milhão de dólares. Sim, é o maior prêmio para matemáticos. Depois, houve uma reunião de homenagem a Chernov, que morreu ano passado no Alabama, onde trabalhou no final de sua carreira. Aí, me convenci que era um livro de referência.
Milton Ribeiro – E isso é utilizado em quê?
Roberto Markarian – Além de ser usado nos cursos de pós-graduação de quem queira estudar o caos, é uma ferramenta teórica que serve à mecânica quântica e a outras aplicações tecnológicas. Há aproximadamente 30 pessoas no mundo que trabalham nisso no momento e eu fazia parte dessa turma.
Milton Ribeiro — Fazia?
Roberto Markarian — Porque agora, como Reitor, é muito complicado seguir produzindo.
Milton Ribeiro – O cargo de Reitor é muito importante no Uruguai. Até o presidente Mujica veio te saudar quando foste eleito.
Roberto Markarian – Sim, quando eu tomei posse no cargo, Mujica apareceu aqui. Afinal, era o Presidente da República e a posição de Reitor em nosso pequeno país é importante. Tabaré Vázquez também já veio nos visitar. A relação da Reitoria com o sistema político é muito grande e Mujica apareceu logo após a eleição, fez um discurso elogioso. Usou um provérbio que me parece ser utilizado no Quixote, Genio y figura hasta la sepultura, que significa que as características de algumas pessoas duram toda a vida, que não são fáceis de mudar.

Milton Ribeiro – Tua neta diz que és a terceira pessoa mais importante do país….
Roberto Markarian – (risadas) A Udelar é uma grande Universidade pública e de livre acesso em um país pequeno. Não há vestibular, quem desejar entrar, entra. Temos 100.000 estudantes e 10.000 professores. Do ponto de vista numérico ela é maior do que a Ufrgs. No Uruguai há uma outra Universidade, a Utec, com menos de 1000 estudantes. Ou seja, praticamente só existe a Udelar. Dos 10.000 professores, temos alguns que cumprem uma hora de obrigação semanal de trabalho e outros com dedicação exclusiva. O número de docentes com dedicação exclusiva são aproximadamente 1000.
Milton Ribeiro – Há estabilidade para os professores?
Roberto Markarian – Não, todas as posições docentes na Universidade são ocupadas inicialmente por dois anos e, depois, há as chamadas reeleições a cada cinco anos. Eu, por exemplo, mesmo depois que ganhei posições mais altas, tive que continuar comprovando merecimento para permanecer naquela posição. Cada professor tem que apresentar um informativo do que produziu, dos planos que tem para o período seguinte. Os Conselhos decidem se cada professor vai continuar ou não. A cada cinco anos, há possibilidade de você não ser eleito. A cada cinco anos, sua cabeça é colocada a prêmio. Não temos maiores proteções.

Milton Ribeiro – Em que casos acontecem as demissões?
Roberto Markarian – Se o professor não faz pesquisas, se ele não produz nenhum trabalho original ou criativo. Falo em criativo porque, se você é um artista deve produzir arte — ou projetos artísticos ou de pesquisas sobre arte — , se você é engenheiro tem que fazer projetos, patentes ou coisas referentes a alguma pesquisa. Se você é um professor muito ruim também pode não ser reconduzido, pois os estudantes podem te “jogar fora”, o que já aconteceu. Eu diria que, em geral, o sistema é muito bom. Não se pode dar nunca lugar à arbitrariedade. Claro que membros do Conselho podem detestar certos professores, mas normalmente prevalecem os critérios objetivos. A capacidade de autocrítica, de aplicar bem os critérios, está funcionando adequadamente. Houve um período em que algumas pessoas saíram por razões subjetivas ou políticas, mas isto não ocorre mais.
Milton Ribeiro – E como são os salários desses professores?
Roberto Markarian – O salário do professor melhorou nos últimos dez anos, especialmente no primeiro período do governo da Frente Ampla. Porém, se comparados com os salários da região, continuam baixos. É muito difícil comparar nossa remuneração com a dos professores brasileiros, porque o custo de vida está sempre se alterando, as moedas se desvalorizam, etc. Eu diria que, no início da carreira, os docentes daqui ganham menos que seus colegas brasileiros. Se você chega a um nível mais alto na carreira, os valores são semelhantes aos normalmente pagos pelas Universidades federais brasileiras, só que sem os extras que os professores brasileiros ganham. Não temos isso aqui. Ou seja, se você comparar, o salário básico é parecido, mas se você comparar o salário total, os salários dos brasileiros são melhores.

Milton Ribeiro – O Uruguai é atrativo para um jovem doutor ou há muita fuga de cérebros? É bom para um jovem doutor permanecer aqui, ter uma carreira ou é melhor ir embora?
Roberto Markarian – Depende muito da área. Temos áreas onde a capacidade de absorção dos jovens doutores pelo sistema acadêmico é muito grande. Praticamente não há fugas de matemáticos, por exemplo. Em outras áreas, como as engenharias, existe uma saída maior, não obstante o fato de que há mercado de trabalho para todos engenheiros uruguaios dentro do país. Mas mesmo assim existe a fuga. De um modo geral, a fuga foi diminuindo. Sendo mais específico, há 4 ou 5 anos a situação era melhor e agora tem aumentado novamente. Há um fato dentro da Udelar que tem evitado a fuga do pessoal acadêmico: é que a Universidade, com o apoio do governo, cresceu no interior. Com isso, foram criadas muitas novas posições.
Milton Ribeiro — Como está sendo feita tal expansão?
Roberto Markarian — A Udelar expandiu-se muito pelo país e agora temos que concentrar esforços em manter a qualidade do trabalho em todos os lugares. Não pode haver uma Universidade do interior e outra de Montevidéu. Ambas — ou todas as unidades — têm que ser de mesma qualidade. Isso não é fácil, os recursos humanos no interior são diferentes dos de Montevidéu. O Uruguai é subdividido em 19 departamentos e todos nós sabemos que é um exagero. A Udelar tenta promover uma estrutura administrativa mais racional e eficaz. É um problema.

Milton Ribeiro – E a tua vida como Reitor, quais são os outros desafios?
Roberto Markarian – Olha, minha principal obrigação como Reitor é assinar todos os títulos que a Universidade dá… É um trabalho maluco. Hoje já assinei mais de cem certificados e títulos. (risadas) Qualquer categoria de título tem que ser assinada pelo Reitor da Universidade. A lei é esta. (Ele pega um certificado) Veja só, aqui temos uma nova contadora pública, que se chama Griselda. Seu documento tem que ser assinado pelo Reitor. (Markarian assina) Aqui temos uma licenciada em economia, a Maria Catalina, que também vai ter o título legalizado por mim. (Markarian assina) Só Bach e Beethoven me ajudam nestas leituras e assinaturas! Mas vamos à pergunta. Neste momento, estamos às voltas com a questão orçamentária. Ontem, o Conselho Universitário aprovou o período para os próximos cinco anos. Essa não é uma responsabilidade exclusiva do Reitor. O Reitor preside de um Conselho de 25 pessoas, que funciona a cada duas semanas. Então, a decisão é coletiva. Os planos de estudos de todas as carreiras dependem de questões orçamentárias que temos que discutir com o governo nacional, porque somos praticamente financiados por ele. Cerca de 80% do orçamento da Universidade é financiado pelo governo. Apenas 20% vêm de recursos de contratos e convênios com organismos estatais e privados.

Milton Ribeiro — E quanto vocês pediram para o próximo quinquênio?
Roberto Markarian — O Conselho aprovou um pedido de aumento de 90% em valores nominais. Agora aguardamos a resposta governamental. Temos que preencher várias lacunas que ficaram em aberto a partir do orçamento anterior. A proposta é de que se eleve o investimento na educação para 6% do PIB.

Milton Ribeiro – O ensino uruguaio parece muito avançado em relação ao brasileiro.
Roberto Markarian – Talvez. Estamos aplicando algumas tecnologias modernas no ensino. Temos o Plano Ceibal, que distribui as “ceibalitas” [pequenos computadores pessoais para atividades educacionais. O plano será melhor explicado na sequência da entrevista] para cada estudante e docente do ensino básico. São equipamentos que eles recebem de graça. Temos mais de meio milhão dessas máquinas e a foto que vocês estão tirando será curiosa porque o quadro que está por trás, o quadro de Simon Bolívar, foi um presente de Hugo Chávez para o Reitor anterior. Chávez morreu antes de eu assumir. Voltando a uma pergunta que fizeste anteriormente, aquela sobre a importância que o Reitor da Udelar tem neste pequeno país: desde agosto já recebi a presidente do Chile e o presidente da Bolívia. Muita coisa passa pela Universidade. Ontem, tive uma reunião para discutir o Plano Ceibal e outra com o presidente da Corte Eleitoral, a qual controla o sistema eleitoral uruguaio e o sistema eleitoral universitário, para decidir quem pode votar ou não, etc. E ainda tento desenvolver projetos na área da matemática.
Milton Ribeiro – Essa era a minha próxima pergunta: como é que consegues conciliar o matemático com o gestor?
Roberto Markarian – Terminei de revisar uma tese de mestrado. Sou orientador de um aluno da USP. Acho que em outubro ele vai defendê-la. Viajei há dois meses para participar da qualificação dele lá na USP e estou tentando terminar dois trabalhos que havia começado antes e que estão aí sobre a mesa. Isto é, faço pouco. Aqui no reitorado, sou obrigado a mudar constantemente de foco. Não há como me concentrar em apenas um tema. Tento ouvir música para auxiliar nas tarefas mais burocráticas. Ter sempre um Bach à mão é fundamental.

Milton Ribeiro – Os ideais de [José Pedro] Varela são de um ensino laico, obrigatório e gratuito. Isso permanece?
Roberto Markarian – Sim, o ensino público é gratuito, de livre ingresso e, para você fazer algumas carreiras, é necessário que tenha feito um determinado tipo de secundário. Se você quer engenharia, terá de fazer um preparatório científico no estudo secundário. Se você quer ir pra medicina, faz outro curso secundário. Minha filha, por exemplo, começou estudando o científico e, quando eu estava em Porto Alegre, passou para o humanístico. Foi uma briga familiar. Hoje é historiadora, doutora em História pela Universidade de Columbia, Nova York. O sistema é livre e universal e isso tem vantagens para os estudantes, mas às vezes gera problemas para a Universidade pela convivência de alunos muito heterogêneos. A diferença de conhecimento dentre eles é muito grande. Quando dei aulas para os primeiros anos de ensino universitário, notava que a diferença entre os estudantes, dependendo da escola onde estudaram, era imensa, mesmo dentro de Montevidéu. Havia gente que sabia tudo e gente de escassos conhecimentos, e todos eles estavam juntos na Engenharia… Você tem que fazer com que aprendam. O que sucede é que, fazendo um cálculo grosseiro, dois anos depois temos apenas a metade dos que iniciaram o curso de Engenharia e apenas 1/3 dos alunos se forma. Em outras carreiras este percentual não é muito diferente.
Milton Ribeiro – O que faz um aluno do científico que decide fazer História, por exemplo?
Roberto Markarian – Bom, agora temos um sistema bastante estranho. Se você faz uma certa quantidade de créditos de qualquer carreira, pode passar para outra. Isto é permitido. Não lembro dos números exatos, mas, por exemplo: se um aluno tiver 15% da Medicina feita, estará autorizado a passar para a Engenharia. Não tem que ir para trás e recomeçar tudo de novo.
Milton Ribeiro – E é possível fazer duas faculdades?
Roberto Markarian – Sim. Por exemplo: tem muita gente que entra na Engenharia e faz Física ou Matemática ao mesmo tempo. Tem gente que acaba uma faculdade e, depois de um período, retorna para outra, dependendo do interesse ou da vocação pessoal. Foi o meu caso. No início eu não fazia faculdade de Matemática, entrei pela Engenharia.

Milton Ribeiro – 20% dos alunos vão para as universidades privadas. Por quê? Se eles podem ter algo de graça, por que pagam?
Roberto Markarian – Temos três universidades privadas e alguns institutos, que se chamam institutos universitários, que têm mais ou menos 20% dos estudantes de nível superior. É um cálculo grosseiro, novamente. Eles vão para lá por razões particulares. Uns vão pela tranquilidade, por ser um lugar mais limpo ou porque fizeram o ensino secundário em escolas privadas. Isto certamente influencia. O dinheiro também. Uma parte dos filhos das pessoas mais ricas procuram as instituições privadas. Seguramente os alunos destas universidades provêm dos 2/5 mais ricos do país. São pessoas que podem pagar o curso que desejam para si ou para seus filhos. Porém, temos muitíssimos alunos dentre os 20% mais ricos.
Milton Ribeiro — A Universidade dá bolsas para os mais pobres?
Roberto Markarian – Sim. O sistema uruguaio pode dar pequenas bolsas para estudantes. Temos hoje 7.000 estudantes nesta situação. Os beneficiários deste programa, cinco anos depois de se graduarem, começam a pagar um imposto que vai direto financiar um fundo de solidariedade para estudantes pobres. Para seguir recebendo a bolsa, o beneficiado tem que ser um estudante razoável, mas o critério principal é o econômico. É realizada uma verificação da renda familiar e de outros fatores sociais. Muitas pessoas que não foram beneficiárias de bolsas colaboram para o fundo de solidariedade. Eu sou uma delas.

Milton Ribeiro – O imposto é mensal ou anual? Qual é o valor da bolsa?
Roberto Markarian – É um pequeno imposto anual. A universidade também tem um sistema de bolsas próprio, mas que só financia os restaurantes universitários e os alojamentos de alguns estudantes. Perguntaste sobre o valor das bolsas para os alunos carentes. É pequeno: é de aproximadamente 7 mil pesos, algo em torno de R$ 1.000. Eles só têm obrigação de passar em uma quantidade mínima de matérias. Não é um benefício dado aos melhores alunos, é para os pobres poderem estudar. Porém, se alguém ficar três anos sem passar em nenhuma disciplina, perderá a bolsa.
Milton Ribeiro – Raros estágios pagam isso no Brasil… Você disse que o Reitor não fala em política. Fale-me sobre a participação dos intelectuais na vida política do Uruguai. No Brasil, atualmente, poucos escritores opinam por receio de se comprometerem, por medo de perderem convites de prefeituras e governos para Feiras e eventos, etc. Como é aqui?
Roberto Markarian – Aqui é o inverso. Falam até demais! [risadas] A posição do Reitor é bem diversa. Ele e os membros do Conselho Universitário têm proibidas quaisquer atividades político-partidárias. Isso está na Constituição da República: os membros das direções e dos organismos autônomos não podem ter participação política. Mas a Universidade é normalmente acusada de ser um organismo de esquerda. Não é, a Universidade é do estado uruguaio, não é de esquerda nem de direita. É uma Universidade. Ontem mesmo me perguntaram porque os esquerdistas dominam a universidade e eu respondi que isto não é verdade. Você tem um Conselho e um Reitor, isso sim. Aqui, eu não sou de esquerda nem de direita. Sou Reitor. Dirijo uma instituição acadêmica e particularmente faço questão de não me posicionar. É muito importante, porque fui eleito por uma coalizão impossível de se explicar do ponto de vista político. Tinha gente da ultra esquerda e da direita. Se me posicionar, serei fatiado, tomografado.

Milton Ribeiro: Mas a Universidade participa intensamente das grandes discussões do país.
Roberto Markarian – Sim, claro! Agora mesmo nós estamos discutindo sobre a atualização do Plano Ceibal, que é o plano implantado no Uruguai em 2007 de “Um computador por aluno”. Todos os alunos de escolas públicas recebem computadores portáteis. A distribuição também chega aos professores e a iniciativa é bem-sucedida. O programa aumentou a frequência dos alunos nas escolas, diminuiu a exclusão digital dos adultos e tem contribuído para a melhoria da educação infanto-juvenil. É um sucesso, mas tem de ser monitorado. As tecnologias e os programas mudam e é importante manter esta ferramenta de ensino. Na Universidade, estamos na ponta superior, mas nossos estudantes vêm do ensino básico. Temos que dar nossa contribuição. Estamos também opinando sobre a Lei de Competitividade que está em discussão no parlamento. Encontramos problemas e alertamos o governo, que muitas vezes nos consulta. A Universidade não dá opiniões políticas, mas avaliações técnicas, gerais, abalizadas e abertas. Temos boa relação com os poderes políticos. Uma vez por semana, em média, recebo um ministro aqui. É verdade que muitas vezes acontece de gente sair de posições universitárias para posições políticas. Vários ministros da Cultura, por exemplo, saíram do sistema universitário. Há efetivamente um trânsito entre o sistema universitário e o sistema político, mas eu diria que nenhum dos reitores, dos que eu conheci em minha longa vida universitária, chegou ao reitorado pensando em ocupar posições políticas.
Milton Ribeiro – Te confundem muito ainda com o teu irmão Sérgio Markarian, o célebre técnico de futebol, ou não?
Roberto Markarian – Sim, sim. Tive que mandar uma declaração ao El Pais. Eles colocaram Sérgio Markarian como Reitor da Universidade do Uruguai. Recebi um pedido de desculpas. Mas nunca me colocaram como técnico de time de futebol. [risadas]

Milton Ribeiro – Onde está o Sérgio agora?
Roberto Markarian – Ele está voltando da Grécia, onde treinava a seleção.
Milton Ribeiro – Nós falávamos sobre como sobrevive o pesquisador e o reitor. E como é que sobrevive o Markarian que conheci, que estava sempre indo ao cinema e lendo livros?
Roberto Markarian – Ah, esse Markarian continua… Lendo poucos livros. A última coisa grande que eu li foi a trilogia americana de Philip Roth, além de literatura japonesa. Sou apaixonado pela literatura japonesa, em especial por Yasunari Kawabata, Nobel de 1968, cujas obras me impressionam pela sensibilidade com que falam do mundo oriental e pelo retrato das relações humanas dentro do cenário dos anos 60. Em agosto, em plena campanha para Reitor, viajei à Coréia e ao Japão para um Congresso Mundial de Matemáticos [ICM Seul 2014]. Minha única viagem extra foi para conhecer Kamakura, a antiga capital do Japão, onde se passam várias de suas obras.
Milton Ribeiro — Não conheço Kawabata…
Roberto Markarian – Problema teu! [risadas] Falando sério, tenho certeza de que tu gostarias muito dos livros dele.
Milton Ribeiro – Mas leste Padura agora também né?
Roberto Markarian – Não, na verdade El hombre que amaba los perros está ali sobre a mesa, mas ainda não o li.
Milton Ribeiro – Tu disseste em algum lugar que vais duas vezes por semana ao cinema…
Roberto Markarian – Sim, eu sou sócio da Cinemateca Uruguaia. Vejo dois filmes por semana, qualquer coisa que possa ser boa. Na semana passada vimos um filme de John Huston que se chama Paixões em fúria [no Brasil]. É um filme extraordinário do final dos anos 40. Também vimos Quando Voam As Cegonhas, de Mikhail Kalatozov, autor também de Soy Cuba. Quando Voam As Cegonhas é um filme primoroso sobre a ausência e a morte. Nossa Cinemateca é muito boa. Eu diria que vou ao cinema duas vezes a cada sete dias quando o negócio não está muito complicado aqui na Universidade. Mas eu tento. E tem que ser no cinema. Comprei uma TV enorme e todo o material para ver filmes em casa, mas não é a mesma coisa.

Mario Benedetti: "Los gobernantes, en general, les tienen miedo a la cultura"
(Entrevista concedida ao Clarín no começo de 2007)
El calor no cede en estos primeros días de 2007. Ni siquiera a las 10 de la mañana, hora pautada para el encuentro con Mario Benedetti. En la puerta del departamento esperan Ariel, su secretario, y Raúl, su hermano, a quien se lo ve habitualmente, en un acotado circuito céntrico, acompañándolo.
Mario nos espera sentado en su silla, al lado de un gran ventanal con vista a la avenida 18 de julio buscando, quizás, que la “ciudad de todos lo vientos”, le regale al menos una brisa para llevar mejor, en esas primera horas de la mañana, sin el ventilador y sus ruidos, la sofocante temperatura.
“Me das un mate”, le dice a su hermano. Mientras terminamos de acomodarnos, el escritor parece compenetrado en un ritual que, curiosamente, le es completamente nuevo.
—Dicen que empezó a tomar mate hace poco. ¿Es cierto?
—Así es. Nunca había probado, increíblemente. Hasta que hace unos meses Ariel me dijo: “¿querés uno?”. Y no se porqué agarré viaje, y me gustó. Además me viene muy bien porque los médicos me recomendaron tomar mucho líquido.
—Este año que acaba de terminar fue particularmente difícil para usted, ¿verdad?
—Sí, sin duda. Fue un año dramático, lleno de muertes. La de mi mujer Luz, luego de una larga agonía, fue para mí un golpe muy duro. Pero no fue la única. En 2006 también se fueron la esposa de mi hermano, la pianista Lyda Indart (madre de Daniel Viglietti), a quien yo quería mucho, Poema Vilariño (hermana de Idea, la poeta), entre otra gente muy próxima.
—A partir de estas experiencias, ¿cambió en algo su idea con respecto a la muerte?
—No, no. Mi percepción sobre ella no ha cambiado. Sé que es inevitable, que ahí está.
—¿Y a partir de ahora puede que tenga mayor protagonismo en su producción literaria?
—No lo sé. Lo que puedo decirle es que a la muerte yo la he tenido siempre presente, aún cuando joven; y que ha sido un tema recurrente en mis textos. Hasta tengo un libro que la menciona directamente: “La muerte y otros escritos”.
—Después de la partida de Luz, ¿En qué o quién se ha refugiado para intentar mitigar tanto dolor?
—En la escritura. En este tiempo ha sido una especie de guarida para defenderme de todas las desgracias que le mencioné al principio. Inclusive seguí escribiendo, aunque menos, todos los meses que mi esposa estuvo internada en la casa de salud, adónde iba a visitarla diariamente.
—Pero se las arregló para publicar dos nuevos libros de poesía.
—Es verdad. En diciembre presenté “Canciones del que no canta” (editado por Seix Barral) y “Nuevo Rincón de Haikus” (editado por la uruguaya Cal y Canto), que es mi tercer libro basado en ese género japonés.
—¿Qué lo llevo al haiku?
—Hasta entrada la década del 80 yo no tenía idea de su existencia. Cuando Julio Cortázar —que fue muy amigo mío— murió, dejo un libro terminado, en ese momento inédito, que tenía como epígrafe un haiku, con un verso que decía “salvo el crepúsculo”, y que terminó usando como título del libro. En el momento que leí la estrofa me sorprendió por su rigor y empecé a buscar antecedentes. En primer lugar indagué sobre su procedencia y luego comencé a buscar algunos cultores de esa forma poética. En España hallé a tres poetas que habían escrito haikus; mientras que en América Latina, el único que había publicado haikus, con el mayor rigor, había sido Jorge Luis Borges.
—Se sabe que ahora está escribiendo, además de los haikus, muchos sonetos. ¿Qué le brinda la poesía reglada?
—Además de que ambos me atraen, tienen formas muy rigurosas que, hoy para mí, constituyen grandes desafíos.
—Y en cuanto a la temática, ¿Hay en esta producción nueva alguna innovación?
—Ariel, mi secretario, dice que estoy escribiendo una poesía más filosófica. Y puede que tenga razón. Cuando uno está viviendo en las cercanías de la muerte —como yo, que tengo 86 años— , resulta bastante lógico que surja una poesía más seria, más preocupada por ese final que se aproxima. Así y todo, los haikus que estoy escribiendo se prestan más para el humor. En el libro “Nuevo rincón de haikus” hay varios que están escritos en ese tono.
—A cincuenta años de sus célebres “Poemas de la oficina”. ¿Cómo se imagina que escribiría sobre ese mundo pero trasladado al presente?
—No podría hacerlos, ni tampoco me imagino cómo podría ser ese libro, porque no conozco bien la vida de los oficinistas de hoy. Hay que tener en cuenta que hice aquellos poemas en un momento que me desempeñaba como oficinista, por lo que conocía perfectamente ese ámbito.
—Ese trabajador anodino, gris, que si bien podía denotar cierta rebeldía no proponía —como sí en textos suyos posteriores- un cambio real, era un típico exponente de la clase media. ¿Cómo ve en la actualidad a la clase media rioplatense?
—¡Uff! En ambos márgenes del Plata la clase media ha caído mucho. Es muy distinta a la de aquella época. Por razones socioeconómicas, mucha gente perteneciente a familias de aquella clase media, hoy está en niveles más bajos. No estoy diciendo nada nuevo con esto. Esa clase social, con sus avatares, siempre me cautivó. Desde la primera vez que me fui de Uruguay por voluntad propia (a lo veintipocos años) y luego en el exilio, escribí siempre sobre la clase media uruguaya.
—¿Qué está leyendo por estos días?
—Ando con una antología de autores latinoamericanos que han escrito libros con humor. Y días pasados también estuve leyendo. ¿Qué estuve leyendo?, no me acuerdo. (lo de Piazzolla, le apunta su secretario ). ¡Ah, sí! Una biografía sobre Piazzolla que me ha enseñado muchas cosas sobre la evolución del tango, y su propia evolución, como empezó con un tango clásico y de a poco fue cambiando.
—Hablando de cambios, usted es de los que creen que la literatura puede cambiarle la realidad a la gente.
—Lo que puede la literatura es revelarle a las personas cosas en las que no habían pensado. Lo que no puede la literatura es cambiar la actitud de los gobernantes, porque éstos, en general, le tienen miedo a la cultura.
“Ninguém que dependa de votos no Brasil é louco de se associar aos ateus”

Do publico.pt
Não se foge à religião no Brasil. Aqui, a fé é ela própria uma divindade de direito próprio: omnipresente. A velar o turismo carioca no topo do Corcovado; no Brás, distrito industrial paulistano onde a Igreja Universal do Reino de Deus construiu recentemente uma enorme réplica do primeiro templo citado na Bíblia, o Templo de Salomão; nas intersecções obscuras da mata atlântica que se adentra pelas cidades, com o candomblé baiano; nos media; no Congresso.
Falar de laicismo parece por isso mais um exercício de republicanismo teórico do que um debate sobre uma característica fundamental dos Estados modernos. Nas urnas, as escolhas do povo estão longe de reflectir essa necessidade. O que tolhe as elites e aumenta o poder das várias igrejas que pululam pelo país, em particular as evangélicas. É nesse contexto, e em absoluta contracorrente, que nasceu a Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos (ATEA).
Daniel Sottomaior é o fundador (2008), presidente e principal rosto da ATEA, que está a tomar em mãos o que ele próprio, com ironia, designa como “luta de David contra Golias”: travar a promiscuidade entre o Estado e as religiões. Na Justiça. Um caso de cada vez. Conversámos numa pequena empadaria do centro de São Paulo, onde pouco depois da entrevista um pregador fortuito num altar de cartão nos diz na rua: “Deus continua existindo!”

Quantos ateus estimam que existam no Brasil?
Todas as pesquisas indicam de 1% a 3%. Não dá para saber exactamente quanto, porque a margem de erro é perto de 1%.
Em números absolutos são…
Se pensarmos em 2%, são quatro milhões de pessoas.
Como são tratadas num país tão religioso?
Uma imensa parte muito mal. Costumo dizer que somos os párias oficiais. Se olhar o que aconteceu na evolução do movimento negro ou do movimento LGBT, por exemplo, houve no Brasil uma progressiva judicialização dos casos de preconceito e discriminação – o que é um sinal de progresso. Hoje em dia, se uma pessoa xinga um negro de macaco, sabe que pode ser preso. Se faz o mesmo com um ateu, a expectativa é completamente diferente.
Por exemplo.
Há um tempo uma moça fez um tweet preconceituoso contra os nordestinos (os imigrantes magrebinos na França são os “imigrantes” nordestinos em São Paulo, é a mesma coisa) e houve comoção nacional, investigação no Ministério Público, manchetes… Óptimo. Muito bom. Agora, quando se falam as mesmas coisas para os ateus [o tweet: “Nordestino não é gente, faça um favor a SP, mate um nordestino afogado”] ou pior, nunca dá manchete, acção das autoridades, ninguém vai preso, é investigado, nada. Xingar os ateus é a mais perfeita normalidade institucional. Ninguém fica indignado. É a mais pura expressão da cultura local.
Acontece ao contrário: ateus a insultar crentes?
É possível, mas não tenho notícia de ateus dizendo que os cristãos – ou seja quem for – são criminosos, que não merecem viver, que têm que ser segregados da sociedade, que têm que ir embora, que merecem o inferno… Não vejo os ateus dizendo isso de ninguém.
Qual é o papel da ATEA?
São muitos. Tentamos focar-nos em dois mais importantes: diminuir o preconceito e lutar pela laicidade do Estado.
A que tipo de acções se dedicam mais?
Ao activismo judicial. Com a imprensa, podemos contar relativamente pouco. O poder público – o executivo e o legislativo – depende de votos. E ninguém que dependa de votos é louco de se associar com os ateus. Sabe o que acontece. Por eliminação, sobra o judiciário. E, ainda assim, aos trancos e barrancos.
Mas que acções são essas?
A mais recente: no final do mês [de Março] a Cúria Metropolitana vai fazer uma procissão pedindo chuva. É a dança da chuva moderna. A diferença é que agora se sentem no direito de usar o carro do corpo de bombeiros – um serviço público essencial – para carregar a imagem pela cidade. E os bombeiros, obviamente, também não vêem nenhum problema. A ATEA vai tentar impedir que isso aconteça – ou, se não for impedido, que os cofres públicos sejam ressarcidos.
E campanhas de sensibilização?
Já fizemos duas, mas isso é eventual. O dia-a-dia é ir à Justiça, ir ao Ministério Público, e pedir providências.
Quantos associados têm?
Cerca de 14 mil, por todo o país.
Como assistiu às últimas presidenciais, tão marcadas pela religião, em particular pela candidatura de Marina Silva?
Não só as presidenciais: para governador, prefeito, vereador, deputado estadual… Todas as eleições são dominadas pela questão religiosa. É uma tragédia anunciada. Os evangélicos se começaram a expandir no Brasil pela TV, há 20 ou 30 anos. Têm muitos fiéis com baixa escolaridade, vítimas fáceis destes predadores, que conseguem amealhar vastas fortunas – um deles é Edir Macedo [fundador da Igreja Universal do Reino de Deus], que está até na lista Forbes entre os mais ricos. Óbvia e literalmente, o dinheiro não cai do céu. Sai dos bolsos dos fiéis. Uma parte vai parar em propaganda porque rende (se desse prejuízo, parariam). E essas pessoas, como noutros países, elegem o melhor representante que o dinheiro pode comprar.
Têm interlocutores habituais? Partidos políticos, poderes locais, estaduais, federal…
Ninguém é louco. [risos]
Ainda assim, há algum partido em particular mais apto a incluir as reivindicações da ATEA no seu programa político?
Quanto mais à esquerda, maior é a tendência de haver uma certa afinidade. São esses os partidos que vejo a poder defender os direitos das minorias e a laicidade do Estado. Mas não sei se posso apontar algum em particular – tanto que isso não aconteceu até hoje.
Em 2009, endereçaram uma carta aberta ao Presidente Lula da Silva, apontando-lhe contradições no que diz respeito à laicidade. Como é que Dilma Rousseff está a tratar esta questão?
A acção é sempre ambígua. Tende mais para o religioso do que para o laico. Um dado interessante: ela é agnóstica. Um pouco antes de ser candidata, numa entrevista famosa, disse [sobre a existência de Deus]: “Eu me equilibro nessa questão. Será que há? Será que não há?” Podemos interpretar isso como sendo a confissão de uma agnóstica, ou de uma ateia que está só abrindo a portinha do armário. Meses depois, miraculosamente, se converteu. Virou uma beata, como se o fosse desde a infância – e assim permanece.
Isso é só curiosidade. Em termos da laicidade em si, ela prefere ceder às pressões dos evangélicos, dos religiosos, sempre que haja um conflito. Seja na questão do aborto, na questão dos direitos das mulheres, casais homossexuais… Dilma sabe qual é o poder da bancada [parlamentar] evangélica. Teve um caso emblemático do chamado “kit gay”, uma iniciativa do Ministério da Educação para incluir em material didáctico uma espécie de cartilha sobre diversidade sexual – a importância e o preconceito. A bancada evangélica disse que o Governo estava tentando influenciar as crianças a serem homossexuais e conseguiu barrar a iniciativa. Isso, obviamente, com o aval da Presidente.
É possível uma associação tão pequena fazer frente a forças tão poderosas? Igrejas com tanto dinheiro, acesso a canais de televisão, que se impõem nas cidades com grandes templos…
É uma luta de David contra Golias. [risos] No que diz respeito ao Brasil, a organização deles chegou com 500 anos de antecedência em relação à nossa. É natural que estejam na frente. Não temos a perspectiva de ficar num embate equilibrado de forças em pouco tempo. Temos de ser realistas: estamos só começando. Já fizemos progressos monstruosos: os media já reconhecem a ATEA como uma liderança. A quantidade de associados é enorme, mesmo para um país com 200 milhões de pessoas. No Facebook, caminhamos para os 400 mil seguidores. Para uma página em português, que só fala de ateísmo e achincalha todas as religiões, é um número extremamente expressivo. Temos muitas acções na Justiça, já conseguimos movimentar uma pequeníssima quantidade de dinheiro… Há dez anos, antes de começar a ATEA, jamais imaginaria que teríamos tantas vitórias assim em pouco tempo.
Têm algum apoio do Estado, enquanto associação cívica?
O Estado quer que a gente morra! Tudo o que fazemos é contra o Estado. O violador é sempre um agente do Estado. E, frequentemente, alguém do alto da pirâmide: o presidente da câmara que diz que tem que deixar o crucifixo na câmara; o magistrado que beneficia religiosos; ou o Congresso, que aprova a Concordata com o Vaticano concedendo à Igreja Católica direitos que ninguém mais tem. Todas as decisões para preservar a laicidade, num país religioso, com a religiosidade tacanha que tem aqui, são impopulares.
Recebem muitas reacções de crentes?
O amor cristão sempre nos é expresso nos termos mais chulos e mais violentos: “um dia, todo o joelho se dobrará a Jesus”, ou que nós arderemos no fogo do Inferno, que vamos todos morrer de cancro, que somos pessoas infelizes, que não temos mais nada para fazer, que temos que deixar [em paz] a maioria cristã… Bastante!
No ano passado, sentiram necessidade de sair em defesa do colectivo Porta dos Fundos. Porquê?
O Porta dos Fundos tem vários ateus. Mas isso não seria relevante, não fosse o facto de que eles fazem muitos vídeos ridicularizando muito abertamente a religião. E eles foram várias vezes atacados. Salvaguardando as devidas proporções, foi um pouco como aconteceu com o Charlie Hebdo: qual é direito que eles têm para falar coisas daquelas? O nosso apoio foi para lembrar que o sagrado só o é para os religiosos, que não podem obrigar os outros a seguir as mesmas regras que eles, inclusive as regras da sexualidade.
Um jornal como o Charlie Hebdo poderia singrar no Brasil, ou seria rechaçado?
Tem espaço para a Porta dos Fundos… O único problema é o espaço para osmedia impressos, que hoje em dia atravessam dificuldades sérias. Fora isso, assim como na França [o Charlie Hebdo] só vai vender um milhão de cópias por causa da tragédia, aqui também: iria vender 5 mil cópias, que seriam os seus fiéis… leitores.
Correcção: os estudos indicam que os ateus correspondem a 1% a 3% da população brasileira e não a 1% a 6%, como estava erradamente transcrito na resposta à primeira pergunta.
Lavard Skou Larsen: “A cultura é a única coisa que nos mantêm, é o catalisador para entender a vida”

Publicado em 13 de abril de 2014 no Sul21.
Quando pegamos um CD ou um programa de concerto e lemos o nome de Lavard Skou Larsen, ficamos normalmente surpresos ao saber que se trata de um maestro e violinista porto-alegrense radicado na Áustria. Os pais desta estrela internacional da chamada música erudita são os violinistas Perly e Gunnar. Ela é gaúcha e Gunnar Skou Larsen foi um dos estrangeiros que vieram para tocar violino na Ospa (Orquestra Sinfônica de Porto Alegre) de Pablo Komlós nos anos 50. Veio da Dinamarca.
Lavard recebeu o Sul21 no apartamento de sua mãe, no bairro Moinhos de Vento. Mesmo com a pesada agenda de concertos — nesta quinzena ele deu concertos em Erevan e em Tbilisi, respectivamente as capitais da Armênia e da Geórgia — ele sempre retorna a Porto Alegre para ver D. Perly, uma lúcida senhora de 90 anos e para tocar e reger, como fará na próxima terça-feira (15). Desta vez, trouxe a nora e os netos. Lavard viveu em nossa cidade só até os quatro anos de idade, mas fala um português perfeito e diz sentir-se em casa como porto-alegrense, gremista e amante do churrasco.
Hoje, além dos concertos pelo mundo, Lavard Skou Larsen é professor de violino na Universidade Mozarteum, em Salzburg, e da cadeira de prática de orquestra. Desde 1991, é fundador, maestro e diretor artístico da Salzburg Chamber Soloists, de grande sucesso no mundo inteiro. Grava regularmente para os selos Naxos, Denon, CPO, Marco Polo, Movieplay, Stradivarius e Coviello Classics e, em 2004, assumiu o cargo de maestro titular da Deutsche Kammerakademie Neuss am Rhein (Alemanha).
Como dissemos, na próxima terça-feira ele estará novamente à frente da Ospa, no Auditório Dante Barone, às 20h30, num concerto cujos detalhes são discutidos abaixo.
É desnecessário alongar-se sobre seu currículo. Acreditamos que boa parte de sua visão da música e do mundo está na entrevista abaixo, que foi longa, gentil, informal e pontuada por risadas.

Sul21 — Como é que um sujeito chamado Lavard Skou Larsen nasce em Porto Alegre?
Lavard Skou Larsen — (risos) Meu pai veio para o Brasil em 1955. Naquela época, vir para o Brasil era uma coisa muito especial, muito exótica, era uma aventura. Ele era violinista, dinamarquês e estudava violino em Viena. Mas quis fazer um ano ou dois anos em outro país. Poderia ter ido para a Índia, para o Paquistão, mas veio para o Brasil. Ele tentou tocar violino no Rio de Janeiro, na OSB, mas lá não tinha lugar. Daí, disseram pra ele “Olha, em Porto Alegre tem um húngaro, Pablo Komlós, que fundou uma orquestra, e lá estão precisando de gente”. E ele veio. Minha mãe conta sobre o dia em que ele chegou. Ele apareceu no ensaio com uma mala numa mão e o estojo de violino na outra, e o único lugar que tinha para sentar era ao lado de minha mãe. Ela é o mais velho membro da Ospa. Tem 90 anos.
Sul21 — A senhora também é violinista?
D. Perly Skou Larsen — Sim, eu toquei no primeiro concerto da Ospa, em 1950. Eu sou daqui de Porto Alegre, estudei no Instituto de Belas Artes. Eu me formei bem na época em que o Komlós estava organizando a orquestra, quando ele estava convidando todo mundo que sabia tocar um pouquinho. O pai do Lavard veio mais tarde. Ele tocava conosco e dava aulas de violino, porque tinha uma formação musical muito sólida.
Lavard — Mas ele te conheceu na Ospa, ele chegou para tocar na Ospa?
D. Perly — Sim, foi contratado. Naquela época a Ospa recebeu uma porção de músicos da Europa. Não foi só ele. Isso tudo em meados de 1950 e 1960. Aí eu casei com Gunnar Skou Larsen, montamos até escolas de música em Porto Alegre.

Sul21 — Como surgiu o violinista Lavard Skou Larsen?
Lavard — Acho que surgiu quando eu estava na barriga dela… Meu pai comprou meu primeiro violino quando eu era um embrião. (risos) Eu não tive escolha. Meu pai foi o primeiro músico de sua família. Meus avós eram camponeses na Dinamarca, gente bem simples. Ele tinha orgulho da profissão que o levara à Viena. E, logo com quatro anos de idade, eu comecei a arranhar o violino no método Suzuki, em que você aprende brincando. Ele tentou o mesmo com minha irmã, mas não obteve sucesso. No início eu era um pouco cabeça dura, não queria estudar, então ele me dava umas chicotadas com o arco. Depois disso eu tocava muito bem! (risos)
Sul21 — Além de apanhar com o arco, o que o guri Lavard fazia? Jogava bola?
Lavard — Brincava com os amigos, jogava bola… O meu pai era muito legal, todos os dias a gente tinha uma ou duas horas de estudo, mas depois, eram só brincadeiras. Ele me ensinou a paixão pela Fórmula 1, por exemplo, me levava às corridas lá na Áustria. Mas sabia educar muito bem, me fazia estudar seriamente. Éramos amigos.

Sul21 — Vocês viviam entre a Europa e Porto Alegre então?
Lavard – Sim, nós fomos para a Europa em 1966. Eu tinha 4 anos. Meu pai desejava estudar regência e tinha planejado ficar alguns anos na Áustria, mas acabou contratado pela Camerata de Salzburg, o que fez com que ele permanecesse definitivamente. Minha mãe também começou a tocar lá. Depois, ele fundou sua própria orquestra de câmara. Voltamos algumas vezes a Porto Alegre, sempre por compromissos profissionais dele ou para visitarmos a família. Ele faleceu em 1975. Hoje eu venho seguidamente à cidade, uma vez por ano, mais ou menos, para ver minha mãe.
Sul21 – Onde tu estudaste, quem foram teus professores?
Lavard – Estudei basicamente fora. Comecei no Mozarteum de Salzburg logo após a morte do meu pai, em 1976. E tirei o diploma com 21 anos, era um dos mais jovens. Estudei com Sandor Végh, e depois fui spalla em várias orquestras. Também aperfeiçoei esta profissão de liderar e organizar orquestras. Eu gostava disso mais do que tocar como solista. Até hoje toco como solista, mas tem que estudar muito para ser bom (risos). Eu faço isso umas quatro ou cinco vezes por ano, mas o que gosto mesmo é de procurar realizar o meu conceito de música dentro de um grupo, para uma orquestra de câmara ou sinfônica.

Sul21 — Tu sempre pretendeste reger?
Lavard — Não, isto veio depois. Acho que o maestro tem que saber muito bem como funciona uma orquestra por dentro. Eu tenho muita experiência de tocar em orquestra como spalla. Eu conheço os problemas e as manias dos músicos, sei da psicologia deles. Você tem de conhecer a essência do grupo. Eu não acredito muito nesses maestros que regem piano, que treinam só o gestual e que só eventualmente trabalham com uma orquestra. A orquestra é um gigante vivo na nossa frente. E eu comecei com isso já cedo, ganhei um prêmio aos 16 anos. Regi uma pequena orquestra na Áustria num concurso e ganhamos, eu e a orquestra, o primeiro prêmio. Mas foi em 2004, quando comecei na Orquestra de Neuss (a Deutsche Kammerakademie Neuss), que eu comecei a reger seriamente. Agora eu posso dizer que sou um maestro, que eu rejo mais do que toco.
Sul21 — É uma liderança natural ou é uma questão de postura adquirida, de atuação?
Lavard — Sem dúvida, você tem que ter um gene de liderança, e às vezes é necessário ser autoritário mesmo. A conversa com um é diferente da que se tem com outro. Um é mais sensível, outro é mais cerebral, outro talvez seja mais limitado. Uns pedem ordens; outros, conversas. Há que conhecer e considerar todos.

Sul21 –Tu te caracterizas como durão ou conciliador?
Lavard — Depende muito da orquestra. Quando não há disciplina ou estudo, eu sou muito duro. Quando há, eu sou aberto, acessível, tenho humor. Eu tive uma orquestra de músicos da Geórgia que estava residente na Alemanha. Fiquei lá dois anos… Foi insuportável, eu agi duramente e só deu rolo. Havia um grupo acomodado nas primeiras cadeiras que era mais velho e não tocava nada bem. E tinha um grupo excelente de jovens que pedia passagem. Estes me apoiavam. Foi um caso grave, houve até luta física entre eles. Os músicos das primeiras cadeiras não aceitavam a rotatividade que hoje em dia é normal. Eles não queriam saber disso, tinham uma formação meio soviética, mas eu fora contratado justamente para modernizar uma orquestra que era patrocinada pela Audi. Também não aceitavam críticas a seu modo de tocar, levavam tudo para o lado pessoal. Mas, feliz ou infelizmente, o maestro tem que ser o chefe. Quando eu entro numa orquestra, penso no tempo que permanecerei lá e como posso educá-la do jeito que quero. O som, o estilo e a forma de tocar são determinadas pelo maestro. É triste ver que os muitos maestros não têm essa obsessão de imprimirem suas assinaturas nas orquestras. Com toda a modéstia, eu posso dizer que imprimi meu estilo em Neuss e na Salzburg Chamber Soloists.

Sul21 — Tu também tens importante atividade pedagógica, não?
Lavard — Sim. Dou aulas em Salzburg e algumas vezes convidei músicos daqui para completarem suas formações comigo no Mozarteum. Todos eles estão bem colocados em orquestras brasileiras. Quando aparece alguém talentoso e com vontade de aprender, eu faço de tudo para mandá-lo para Salzburg. O custo para brasileiros é de 570 euros por semestre. Nosso conservatório é muitíssimo superior à esmagadora maioria dos norte-americanos, onde se paga até 25 mil dólares por semestre.
Sul21 — Qual é tua orquestra dos sonhos?
Lavard — Eu acho que a melhor orquestra alemã que jamais existiu foi a Filarmônica de Munique, sob a direção de Sergiu Celibidache. O que eu gostava em Celibidache – e meu professor em Salzburg, Sandor Végh, também era assim – é que havia uma filosofia, um conceito por trás, eles faziam música para entender a vida. Para eles, a música não era só notas e beleza, era mais importante que a religião. Eles procuravam o significado daquilo que estava entre as notas, do que emergia delas. A estética da música de Celibidache era uma coisa filosófica, muito profunda. Fora isso, a técnica de montar uma orquestra, de afiná-la e de fazê-la entender a música e o que estava acontecendo, eram únicas, era uma coisa de uma inteligência cultural que poucos alcançam. Celibidache conseguia unir técnica, espiritualidade, agressividade, tudo. Especialmente a música de alguns grandes artistas — falo de Mozart, Bach, Schubert, Haydn, Beethoven — têm significados muito profundos. A partir deles você entende muitas coisas íntimas da alma, do espírito. São coisas que mexem contigo. Como disse Beethoven, não existe coisa igual à música. Nem a filosofia, nem a religião, nem a psicologia chega perto da música. A música realmente pode resolver coisas. E quem tomou a sério estas noções foram Sandor Végh e Celibidache.

Sul21 — Como entender os significados, vozes e intenções?
Lavard — Não é nem uma questão de compreender. Um repórter perguntou ao Celibidache o que era a tal transcendência de que ele tanto falava, e ele respondeu que não tem como explicar a palavra transcendência porque ela também é transcendental! (risos) Porque a música é uma coisa passageira, ela existe neste instante. Quando tu escutaste a nota, ela já é passado. Um quadro eu posso olhar o tempo inteiro, posso estudar, o pintor pode modificá-lo. A música não. Celibidache nunca quis fazer gravações de estúdio porque ele pensava a música a partir do momento espontâneo do concerto, dessa existência efêmera. Uma gravação é como um retrato de uma pessoa. Você tem o retrato, mas não o prazer da presença. Eu também não gosto muito de gravações, mas você aprende coisas quando grava, apesar de que nunca vai ser a mesma coisa do que um concerto ao vivo. Os concertos ao vivo são a música de verdade.
Sul21 — E o repertório dos sonhos?
Lavard — Bem, minhas especialidades são Haydn, Mozart, Beethoven e Schubert. Também tenho muita afinidade com a música francesa e gosto muito de Brahms e Bruckner. O que eu não aprecio muito é a ópera, só suporto as de Wagner e Mozart e alguma coisa de Puccini. Rossini, Donizetti, etc., não gosto muito deles. Essas historinhas do cara que casou errado, do amor escondido, das mocinhas, dos disfarces, acho muito bagaceiras… Isso era coisa pra divertir o pessoal daquela época. Hoje em dia não faz sentido.

Sul21 — E o programa do teu concerto com a Ospa na próxima terça-feira?
Lavard — A primeira parte é Mozart, minha especialidade. Eu vou reger a Sinfonia Nº 38. Na segunda parte, eu vou reger e tocar o primeiro violino solo nas Metamorphosen, de Richard Strauss. É uma obra muito complicada, não sei se vai dar certo, mas vamos ver! É escrita para 23 solistas — 10 violinos, 5 violas, 5 violoncelos e 3 contrabaixos. Deixa eu te contar uma coisa: no dia 10 de abril de 1945, Strauss batizou a composição como Réquiem para Munique, porque ele era do Partido Nazista e estava escrevendo para os alemães que estavam sendo derrotados na Segunda Guerra Mundial. Strauss sofreu muito pelo fato dos alemães não terem conseguido se desenvolver depois da I Guerra Mundial. Sofreu mais ainda quando Hitler foi ladeira abaixo. Então ele escreveu um Réquiem. Só que, quando ele criou esse título, alguém mais esperto lhe disse que ninguém ia tocar a obra! (risos) Aí então ele botou Metamorphosen, que é uma coisa completamente objetiva, sem nenhum contexto político. Mas bem no final, nos últimos dez compassos, os contrabaixos tocam o motivo do segundo movimento de Eroica, de Beethoven. E aí o Strauss escreve “In Memoriam” na partitura. Neste ponto a gente percebe que o Réquiem original está escondido ali. E é uma peça maravilhosa, lindíssima, romântica ao mais alto e digno grau.

Sul21 — Tu gostas muito de futebol, infelizmente és gremista… E a Sala Sinfônica da Ospa? Parece que há dinheiro para os estádios, já para a cultura…
Lavard — Sim, você é colorado, eu sei pelo Facebook (risos). Hoje em dia, o futebol está emburrecendo as pessoas. Isso acontece em todo o mundo. Parece que o futebol é a única coisa que importa. Você abre o noticiário e a primeira coisa é o futebol. Eu acho errado. O futebol tem que retornar ao seu lugar. E olha que eu adoro futebol! Aqui, por exemplo, só se fala e só se briga pela Copa. Por exemplo, a Ospa, que tem um enorme potencial e é uma instituição da cidade, ficou esquecida. Eu acho isso um escândalo. Eu acho que os músicos da orquestra têm razão em fazer greve e cancelar concertos, as condições que eles estavam quando eu regi, em 2011, naquela sala onde ensaiamos lá no Cais (o armazém A3), eram escandalosas. Eu sou brasileiro e fico indignado com este tratamento. Acredito que os manifestantes foram muitos sábios ao protestarem durante a Copa das Confederações. Meus amigos me perguntavam o motivo; afinal, para os europeus, somos o país do futebol. Eu tentava explicar que quem não tem o básico, talvez não deva pagar por algo caro como uma Copa do Mundo. Um povo sem cultura é um povo perdido. A cultura é a única coisa que nos mantêm vivos. A cultura é o catalisador para entender a vida, não interessa se é pintura, escultura, dança, música, teatro, poesia; a cultura é a coisa mais importante, mais importante do que a religião. A cultura leva a entender a vida e isso é fundamental. A música é a medicina da alma. A cidade tem que ter uma grande orquestra. Como disse o Erico Veríssimo, “eu tenho orgulho de morar numa cidade que tem uma orquestra sinfônica”. Isso tinha que estar bem grande em cima da Rua da Praia, tinha que escrever lá “Nós temos uma orquestra sinfônica e é a Ospa.”.

Sul21 — Atualmente a gente passa pela Av. Independência e vê o prédio do ex-Teatro da Ospa sendo destruído. Sugiro-te nem passar lá, é deprimente. E a Ospa, hoje é jogada de um lado pra outro.
Lavard — Já passei por lá… Eu vejo nosso ensaio de hoje (9 de abril), na sala Elis Regina, como um bom passo, como uma perspectiva positiva no horizonte da Ospa. É uma sala muito boa, ótima. Faltam coisas fundamentais como o ar condicionado, mas é uma boa sala, muitas orquestras europeias não têm uma sala como aquela. Mas hoje devo ter perdido dois litros de suor ensaiando lá! Sendo maltratada, qualquer pessoa acaba sem vontade de trabalhar, é uma pena. Em São Paulo conseguiram montar uma ótima orquestra, com estrutura. É seguir o caminho.
Sul21 — Os políticos admiram a Ospa. Seus discursos são sublimes. Mas na prática tal admiração não se confirma.
Lavard — Tudo funcionava melhor na época em que havia maestros muito capazes e influentes, como Eleazar de Carvalho e David Machado, verdadeiras feras. Não quero dizer que isso seja bom, mas quando eles queriam uma coisa, brigavam, exigiam e conseguiam. Às vezes não adianta ser diplomático e democrático, às vezes o que resolve é o soco na mesa. Lamento dizer isso.
Juliette Binoche fala de prostituição e casamento burguês
De “O Globo”
“No colégio, tive amigas que se prostituíam para sobreviver”
BERLIM – A imprensa francesa se refere a ela como “La Binoche” — e não há ironia na expressão. Entre seus compatriotas, Juliette Binoche é tratada como patrimônio nacional, a grande dama do cinema de sua geração, dona de um currículo sólido, recheado de personagens ora líricos, ora controversos, como a jornalista do drama “Elles”, em cartaz nos cinemas da cidade. No filme da jovem diretora polonesa Malgorzata Szumowska, Juliette interpreta uma repórter de uma revista que, ao mergulhar no mundo da prostituição, passa a questionar sua existência burguesa, ao lado do marido e dos filhos.
Aos 48 anos, a atriz continua inquieta como nos primeiros anos da carreira, quando empolgou como um dos vértices do triângulo amoroso de “A insustentável leveza do ser” (1988) ou a jovem amante de um membro do parlamento inglês de “Perdas e danos” (1992). Ela continua fiel a seus instintos mesmo depois da bajulação decorrente do épico “O paciente inglês” (1996), em que ganhou o Oscar de atriz coadjuvante.
— Busco projetos que me façam sentir a necessidade de fazê-los. Gosto de ser convencida a fazer um papel, mesmo sem saber exatamente a razão — diz a atriz, sentada no canto de um barulhento café de Potsdamerplatz, durante o Festival de Berlim, onde “Elles” foi exibido na mostra Panorama. — Nós, atores, sempre esperamos que o trabalho afete nossas vidas. Queremos ser comovidos por uma experiência nova, explorar coisas dentro de nós que, ao mesmo tempo, também nos é exterior. Sinto vontade de me despir da minha pele e entender melhor não só a mim mesma, mas também a sociedade em que vivo.
Neste aspecto, “Elles” tem muito a oferecer, embora parte de sua controvérsia seja exagerada. O filme confronta o estilo de vida da jornalista, que vê o relacionamento com o marido e os filhos se deteriorando dentro de seu confortável apartamento parisiense, com o das duas jovens prostitutas que entrevista. À guisa de pesquisa, a produção do filme ofereceu a Juliette um documentário sobre universitárias que vendem o corpo para pagar os estudos, feito durante a fase de confecção do roteiro.
Um desafio: cenas de nudez aos 48 anos
A atriz achou o material muito informativo, mas ela já estava familiarizada com o assunto:
— No colégio, tive amigas que se prostituíam para sobreviver. Não as julgo, porque sei como é difícil estudar sem apoio financeiro da família ou do estado — conta. — O documentário que vi ajudou a me atualizar sobre o tema. A prostituição entre jovens é um fenômeno mundial, principalmente por causa da internet. O que me impressionou foi descobrir que parece ser muito fácil entrar na prostituição para quem está do lado de fora dessa vida. Mas, aos poucos, descobre-se que não é tão fácil assim, as pessoas idealizam muito a profissão das prostitutas. Elas se expõem a perigos reais nessa atividade.
“Elles” impôs pelo menos um grande desafio a Juliette, à beira dos 50 anos: fazer cenas de nudez. Na mais polêmica delas, sua personagem se masturba no chão do banheiro. Amparada pelas mulheres atormentadas que interpretou no passado, Juliette não se abalou.
— No final das contas, foi até divertido (filmar nua) — diz, pontuando a frase com uma sonora gargalhada. — Porque estabelecia um contraste, sabe? No final do dia, Anne, a minha personagem, põe um bom vestido, como uma prostituta sedutora. É como um espelho para ela: depois de ouvir todas as histórias das prostitutas, de conviver com elas, Anne volta para o casamento burguês para enfrentar as perdas dentro de casa, mas dentro de uma roupa elegante. Gosto dessa contradição. É como fumar um cigarro depois do sexo e descobrir na TV que o mundo está acabando em algum lugar lá fora.
Mãe de Raphael, de 18 anos, fruto de sua união com o mergulhador Andre Halle, e de Hannah, de 12 anos, filha do ator Benoît Magimel, Juliette mora numa confortável casa de Vaucresson, subúrbio luxuoso de Paris. Solteira e com os filhos já mais ou menos encaminhados no mundo, a atriz se sente mais à vontade para os projetos que quiser. Há dois anos, foi para a Itália com o diretor iraniano Abbas Kiarostami rodar “Cópia fiel”, produção que lhe deu a Palma de Ouro de melhor atriz no Festival de Cannes de 2010.
Ano passado, voou para o Canadá, onde rodou uma pequena participação em “Cosmópolis”, de David Cronenberg, no qual interpreta uma das amantes do galãzinho Robert Pattinson.
Nas telas, amante de Robert Pattinson
Por razões financeiras, parte de “Elles” foi rodado na Alemanha. O nome de Malgorzata lhe foi sugerido pelo diretor de fotografia Slavomir Idziak, que conheceu no set de “A liberdade é azul” (1993).
— Perguntei ao Slavomir o que estava acontecendo de interessante no cinema polonês, que já nos deu Polanski, Kieslowski e Wajda, e ele me disse que a única grande cineasta da geração atual era Malgorzata. O nome dela ficou na minha mente. Umas duas semanas depois dessa conversa eu recebi o roteiro de “Elles” — lembra. — Achei um assunto forte, especial, arriscado. No nosso primeiro encontro, Malgorzata chegou a dizer que não nos daríamos muito bem, porque ela tem personalidade forte e eu também tenho personalidade forte, e blá, blá, blá… Mas, no final das contas, foi ótimo, foi como se dançássemos juntas no set.
Julian Assange entrevista Rafael Correa, presidente do Equador, ao vivo
A entrevista é de maio deste ano, durante a prisão domiciliar de Assange em Londres. Hoje, Assange está na Embaixada do Equador em Londres, pede asilo político para evitar uma inacreditável extradição para a Suécia, onde acusado de “abuso sexual”. Temos sérias dúvidas… A polícia inglesa já afirmou que o prenderá assim que sair da Embaixada, impedindo-o de ir ao Equador.
O final da entrevista revela dois homens que temem ser assassinados.
Gostar de quem conta histórias
Na semana passada, entrevistei Paixão Côrtes para o Sul21. Não sou ligado ao Movimento Tradicionalista Gaúcho, mas adoro quem se dedica a contar histórias, principalmente se for um velho cheio delas. Hoje, neste feriado estadual, a entrevista foi publicada. Acho que ficou boa e o maior mérito é do próprio Paixão e do fotógrafo Bruno Alencastro, que fez um belo trabalho dentro da casa do entrevistado e ainda foi lá no Laçador complementar.
Milton Ribeiro faz aniversário e é entrevistado
(Escrito há dois anos. Discretamente atualizado.)
A entrevistadora, que presumo recém chegada à menopausa, entra em minha casa a fim de me entrevistar para o Programa Hoje é Meu Dia. O programa apresenta aniversariantes e hoje é o caso. Eu tinha preenchido uma ficha candidatando-me ao programa. Improvisa-se um palquinho em minha casa. Ficamos sentados em frente a meus livros. Desculpo-me pela bagunça, mas o câmera diz para deixar assim, pois o cenário tem personalidade. Sentamos lado a lado, eu e a apresentadora.
P (à guisa de introdução) – Nosso entrevistado de hoje, Milton Ribeiro, está completando 53 anos. É um dia feliz! Ele está muito bem para sua idade. Se excetuarmos o Viagra ou o Cialis, meus caros espectadores, Milton não usa medicamentos de uso contínuo, o que demonstra que ele é mais um prodígio de boa saúde física encontrado por nosso prestigiado programa. Saúde física e mental, conforme vocês poderão comprovar pelo bom humor de nosso entrevistado.
P – Como você mantém esta atitude positiva perante a vida?
R – Bem, como a vida não tem mesmo sentido, logo percebi que poderia optar por várias posturas, todas equivalentes. Poderia me desesperar a cada vicissitude, ou rir delas; escolhi rir. Poderia roubar e matar, mas como prefiro ser bem aceito, escolhi ser bom. Acho que poderia ser bem mais imbecil, porém gosto de cultura e de me informar e aí está um sério problema. É difícil ser pra cima e informado ao mesmo tempo, mas tenho tentado.
P – Entendo. Mas o Sr. deve tentar mais. Confiamos no Sr.!!! Ho, ho, ho!
R – Estou na luta.
P – O Sr. nunca ficou deprimido, certo?
R – Olha, houve episódios em que quis me matar, principalmente durante minha separação, mas digamos que o grande bobo que há em mim emergiu novamente após uns meses e voltei a ficar assim.
P – Nada grave, portanto.
R – Sem dúvida, nada grave. Foram apenas seis meses em que me deprimi. Minha atitude positiva perante a vida fez com que eu me livrasse de todo o insuportável estresse dando de presente todo o pouco que construíra e hoje estou aqui, em perfeita forma.
P – Você então possui uma disposição natural para a felicidade?
R – Sem dúvida. Eu nasci daltônico, estrábico, tenho pés chatos, minha voz é horrível, sou meio cambota, estou engordando e perdendo cabelo, mas só pensei nisso agora. Prova de que sou feliz e mais: de que a felicidade é proteger-se de si mesmo. É o que faço. Sempre.
P – E então? O Sr. é a prova de que as pessoas não devem desistir de seus sonhos?
R – Hum… Sem dúvida.
P – E quais são seus sonhos hoje?
R – Comprar um Karmann-Ghia, ler livros que não me encham o saco, fugir de ver TV, esquecer os jornais da grande imprensa e a música ambiente, reentrar em forma, ouvir música…
P – Vejam, meus amigos, são coisas simples! A felicidade ESTÁ nas coisas simples.
R – Sim, parecem simples, mas tem muito mais…
P – Desculpe interromper. Acho que nossos telespectadores querem saber como você chegou aos 53 anos sem tomar medicação alguma.
R – Eu ia vivendo numa boa até que fui ao cardiologista. Fui porque quis, imotivadamente. Nunca tive nada. Mas descobri que meu colesterol estava batendo nos 300.
P – Ho, ho, ho. Que coisa!
R – Pois é. Aí comecei a tomar um Lípitor antes de dormir e a coisa caiu para 100.
P – Sensacional!
R – Sim, eu sempre obedeci os médicos direitinho.
P – E então, tudo resolvido!
R – Claro, como eu sou alguém naturalmente feliz, ignorava que podia ser perigoso transformar o próprio sangue em água.
P – E então?
R – Hoje tomo meio comprimido e a coisa vai bem.
P – Viram? Tudo se resolve com bom senso, ho, ho, ho. E o peso?
R – Eu adquiri 10 quilos nos últimos trinta anos.
P – Só?
R – Sim, se seguir assim, viverei o suficiente para experimentar a obesidade mórbida.
P – Ho, ho, ho. Não é maravilhoso? E você não acha que poderia manter o peso atual?
R – Não.
P – Mas por quê?
R – Olha, eu tomei Sibutramina de 15 mg por dia e tinha a mesma fome incontrolável. Desisti. Quando chega ao final da tarde, penso tanto em chocolate que até esqueço de desejar a morte súbita de algumas pessoas.
P – Nada de maus sentimentos, nada de maus sentimentos! Diria até que sua chocolatria, ho, ho, ho, é muito boa para afastar maus sentimentos.
R – Sim. A chocolatria me salva deles e passo a sonhar apenas com Alpinos e que tais.
P – Ho, ho, ho. Você tem muitos amigos?
R – Sim, esta é uma parte boa da minha vida.
P – Maravilha, uma vida social intensa. E a vida sexual?
R – Olha, quando a coisa começou a falhar fui a um médico que garantiu que meu único problema era mental.
P – Um problema mental! Que bom que não era grave!
R – Ele me disse que se eu me preocupasse muito com os problemas, geraria um aumento de adrenalina no sangue e que esta adrenalina faria com que uma válvula não funcionasse bem.
P – Apenas um problema hidráulico!
R – Sim, claro. Se não vedar bem, o sangue sai. É como uma Hydra estragada.
P – Hidra, como assim?
R – Hydra, uma válvula que se usa em privadas.
P – Ho, ho, ho. Perfeito.
R – Aí, ele me perguntou se minha vida era exageradamente problemática, pois o estresse causa a produção em excesso de adrenalina.
R – E você?
P – Eu respondi que na época estava com um advogado, buscando a obter a guarda de minha filha.
P – Ho, ho, ho. E então?
R – Ele se apavorou. Pois do jeito que minha situação se encontrava, teria dificuldades de fazer uma boa vedação. O sangue iria embora e o pau…
P – Ho, ho, ho. Estamos entrevistando Milton Ribeiro e são 19h43 minutos em Porto Alegre.
R – …
P – E… Bem, isso significa que se você não tiver grandes preocupações, a válvula funciona e sua vida sexual também?
R – Sem dúvida! Pois não tenho problemas físicos, só os mentais causados pela adrenalina.
P – Então pode ser solucionado!
R – Claro. Foi por isso que fiz o seguinte raciocínio: como não sou rico e, portanto, meus problemas não são de fácil solução, deveria considerar seriamente a necessidade de tornar-me uma besta quadrada, um bobo alegre.
P – E conseguiu?
R – Venho tentando.
P – E será que é mesmo necessário tornar-se um bobo alegre…? Ho, ho, ho.
R – Não, mas é uma questão de prevenção. E, dentro de minha estratégia, tenho que seguir esta trilha, entende? Sou obrigado.
P – Maravilhoso!
R – Mas há desvios que atrapalham.
P – Quais?
R – Eu ligo a TV de manhã e sinto aquela adrenalina voltando. Ou dão péssimas notícias ou é vulgar pra caralho.
P – Pra car… ho, ho, ho! A TV pode ser boa, Sr. Milton, pode ser sim!
R – Sim, porém há sempre mais. Por exemplo, vou ler um bom livro, mas este me dá SEMPRE uma visão por demais realista, ouço uma bela música mas ela é SEMPRE meio trágica.
P – Ora, o mundo não é bom para os intelectuais. Por isso, os cientistas inventaram o Viagra. Só para vocês, conforme o Sr. demonstra.
R – Você está ficando irritada e isto não é bom… Lembre-se que não devo me estressar. É mesmo um remédio para intelectuais?
P – Deve ser!
R – É que desconheço pessoas felizes. Não apenas intelectuais. Todos são infelizes, mesmo que racionalizem. Todos morrerão.
P – Vocês são muito desagradáveis.
R – Como?
P – Desagradáveis. Os intelectuais gostam de ficar tristes e de dizer! Fazem dramas.
R – E você é feliz?
P – O entrevistado é você. Não interessa o que eu penso. Nem se penso.
R – Você pensa. Só que mal. Pensa que as pessoas possam ser felizes e satisfeitas quando ninguém é assim. A gente é bom ou ruim, interessante ou desinteressante, branco ou preto, engraçado ou sisudo, sociável ou não, mas é sempre insatisfeito.
P – Você não serve para nosso programa.
Fala para o câmera:
P – Ele não irá ao ar no “Hoje é meu Dia”. Procuraremos outra pessoa. Ou um ator contratado, talvez.
R – OK, não posso me estressar.
P – Passe bem. Vocês não têm nada a acrescentar!
R – Vocês?
P – Vocês, os metidos, os idiotas. Imagina falar mal da TV! Na TV! Passe bem!
Ela levanta e faz um sinal ao câmera. Ele faz tsc, tsc, tsc, e diz escolhem cada abobado, acho que não leram a ficha… A entrevistadora manda o câmera apressar-se.
Leitura de fim-de-semana
Não por eu ter feito a entrevista, mas por ter um BAITA CONTEÚDO, vale a pena ler.