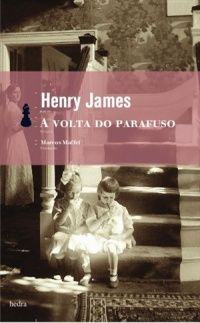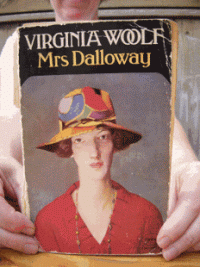Hoje à noite, às 19h, haverá dois dos mais esperados embates do ano. No StudioClio, se enfrentarão os dois livros acima. Antes teremos Suicídios exemplares (Suicidios ejemplares, 1991), de Enrique Vila-Matas X Vésperas (2002), de Adriana Lunardi. Estarei no jogo entre Woolf e James junto com Nikelen Witter e as cervejas Corujas, sempre presentes ao evento. Abaixo, minhas anotações de fim-de-semana sobre os livros. Devido a problemas com a Fox Sports, a Net não transmitirá o evento ao vivo. Só indo lá assistir.
.oOo.
Logo que soube da escolha deste jogo por parte do StudioClio, a ideia de uma partida que reunisse Mrs. Dalloway e A volta do parafuso pareceu-me algo muito aleatório, mas tal impressão não subsistiu a alguns minutos de reflexão. O livro de James foi escrito em 1898 e o de Woolf apenas 27 anos depois, em 1925. Porém, sabemos que o mundo foi virado de cabeça para baixo naquele período, quando o romance do século XIX foi, em parte, substituído pelo romance moderno.
Não foram anos quaisquer. Alguém pode me dizer que o critério evolutivo não serve para a história do romance. Afinal, Grande Sertão: Veredas foi escrito há 56 anos, mas quando comparado com os romances atuais, dá a impressão (ou a certeza) de ser mais moderno do que aquilo que os romancistas de hoje escrevem. Talvez fosse interessante refletir se os escritores de hoje escrevem para o passado ou, pior, para um leitor que não existe mais. Bem, acho que isto é em parte verdade, mas não tergiversemos.
O fato é que Guimarães Rosa foi um fenômeno isolado enquanto Virginia Woolf fez parte de um oceano que estava destinado a mudar a arte do romance. Para comprovar que era um tsunami completo, com direito a levar de roldão o que houvesse pela frente, nem invocarei a literatura. Invoco, por exemplo, a música. O Allegro Barbaro de Bartók é de 1911, A Sagração da Primavera é de 1913, as Sinfonias de Mahler de 4 a 10 estão também entre a obra de James e de Woolf, Brahms morrera em 1897 e seu cadáver nem estava muito frio quando Debussy já rascunhava seus Noturnos orquestrais. Mas não era só na música, na pintura havia uma revolução análoga e até mais charmosa e célebre. Na literatura, Tolstói morria em 1910 para dar lugar a James Joyce, T.S. Eliot, Rilke, Proust, Kafka, Pirandello, Svevo… Todos autores que produziram toda ou grande parte de sua obra entre 1898 e 1925. Ou seja, não quero dar uma de Juscelino Kubitschek que empolgou o país com seu bordão “cinquenta anos em cinco”, porém o fato é que o mundo adquiria outra feição e velocidade naqueles anos.
Pois bem, acabo de separar os dois livros como se houvesse 200 anos entre eles, agora é o momento de aproximá-los. Por mais que hoje nos pareça estranho, Henry James era um escritor de vanguarda em sua época. Seu desenvolvimento calmo e sua classe encontram boa analogia no Bruxo de Cosme Velho. Tal como Machado, a literatura de James apresentava-se bastante estranha em 1898. Era como se o escritor, cansado do meramente romanesco, passasse a abrir mão da trama complicada e da construção de conflitos para que o leitor pudesse fruir a linguagem. James, em seus romances e novelas da época, revela um virtuosismo arrebatador sobre um quase nada, assim como Machado fez em Memorial de Aires. A trama de A Volta do Parafuso é tão rarefeita que uma sinopse do livro pode destruir a boa intenção de qualquer leitor e é isso que vou fazer agora. Calma, não vou estragar o prazer de ninguém ao ler o livro, tudo o que descreverei está bem no início da novela.

Uma mulher jovem, solteira e precisando de emprego, vai a Londres em atendimento a um anúncio. Necessitava-se de uma preceptora para cuidar de dois órfãos. O tutor é um tio bonito e bon vivant e o casal de crianças sob sua tutela é um grande incômodo. O que ele oferece? Um bom salário para morar afastado numa residência burguesa no campo, Bly, com muitos serviçais. O que ele pede? Que a contratada permaneça lá, cuidando e ensinando as crianças como uma condição: ela não deve aborrecê-lo com quaisquer problemas. Ele paga para não se incomodar. Mandará o dinheiro e ela deve resolver tudo, sem encher o saco com picuinhas e não-picuinhas. O tio é encantador, percebe que ela é suscetível a esse encanto e eles fecham o acordo. Ela vai para a propriedade, faz amizade com uma servidora simples e confiável, Mrs. Grove; logo descobrirá que as crianças são uns amores, excepcionalmente inteligentes e belas, e então não se tem mais certeza de nada. A única estranheza é o fato de o encantador Miles, o irmão mais velho, ter sido expulso da escola. A narradora não questiona o fato junto ao menino para não melindrá-lo; afinal é tão fofo! A partir de então, tudo fica BEM ESTRANHO: a ex-preceptora aparece em forma de fantasma… Ou é a narradora que enlouqueceu? O serviçal Peter Quint é outro fantasma do qual temos dúvidas se está ali mesmo ou apenas na imaginação da narradora. Well…
(Intermezzo: Pesquisei e contei 24 adaptações de The turn of the screw. Seis filmes – um com Marlon Brando, outro com Deborah Kerr, outro com Harvey Keitel e outro com Shelley Duvall – , mais uma ópera de Benjamin Britten, balés, adaptações radiofônicas, teatrais, o diabo. Nestas, muita criatividade, talvez abuso. Muito sexo, principalmente. As cenas de sexo do filme de Brando são um show à parte. Ele recém saíra de O Último Tango em Paris e o diretor Michel Winner resolveu utilizá-lo sem Maria Schneider nem manteiga, mas usando a liberdade de interpretação que James permite).
Respondendo a meus parênteses: Winner errou? Não, certamente não. Mas a preceptora aproxima-se “fisicamente” do fantasma de Quint no livro? Olha, James não descreveu nada parecido, mas ela pensava muito nele. Os pensamentos eram libidinosos? Não, eram de horror, mas falemos sério e de nossa posição pós-Freud: o fantasma de Quint cria uma atração irresistível na preceptora. Ela afirma que se trata de um monstro, mas ela o acha bonito e Mrs. Grove – que o conheceu vivo – garante: Quint era muito bonito e permissivo. O narrador James – o livro é narrado em primeira pessoa pela preceptora – não diz nada, mas nos leva a desconfiar de muita bobagem. Quint não é, decididamente, um cavalheiro; antes é sempre comparado a um animal. Quem sabe um fauno permissivo, instintivo e execrável à moral da moça? Talvez apenas a sua moral, claro.
Tudo no romance é perfeito. E insuficiente. As aparições dos fantasmas são raras e espaçadas, as informações sobre o possível conchavo deles com as crianças podem ser fruto da imaginação tola da narradora. Sabe-se pouco e fica claro que um dos fatos principais do livro é a linguagem de James, sempre pronta a nos enganar e a levar nosso pensamento para qualquer direção, nenhuma delas inocente. A Volta do Parafuso é escrito com o óbvio propósito de iludir o leitor a cada página. A interpretação é livre, tão livre que, no Brasil, uma editora espírita do interior de São Paulo publicou Os Inocentes de Henry James, como uma novela espírita da possessão de duas almas infantis por dois espíritos malvados, obsessores. Acho que de modo nenhum podemos explicar o livro por aí. De meu ponto de vista, eu, que jamais acreditei em fantasmas nem em espiritismo, confesso que James me assustou. Sim, confesso ter ficado arrepiado, inteiramente envolvido pela linguagem de James. Aliás, se houver alguma explicação para o livro, ela não será nada, nada óbvia. O mínimo que sobrará a um leitor de inteligência mediana, como eu, será a certeza de que se trata de um livro absolutamente assustador e instigante.

Já Mrs. Dalloway é muito diferente. O que me salta imediatamente aos olhos é o trabalho de linguagem de Virginia Woolf, sua enorme leveza e feminilidade ao escrever. Mrs. Dalloway é o primeiro livro de VW que subverte a linguagem tradicional. O livro inicia com a seguinte frase: “A Sra. Dalloway disse que ela própria compraria as flores”. Depois o que se vê inicialmente é uma explosão de alegria de uma mulher casada que dará uma festa à noite em sua casa. Sim, o ambiente inicial é de festa, mas logo abrem-se frestas. O surgimento de Peter Walsh, o seu primeiro amor, que retorna da Índia, muda alguma coisa, trazendo consigo os desejos da juventude que acabaram num casamento morno. Há também Septimus Warren Smith, enlouquecido pelo trauma da Primeira Guerra Mundial e cujos medos parecem se refletir em Clarissa (Dalloway). Enquanto Septimus é uma chaga aberta, Clarissa cobre sua dor com festas, amigos e tarefinhas. O futuro parece assustador, a velhice – Clarissa tem 52 anos – também. Melhor que os convidados saiam de sua casa dizendo a frase que Francisco Marshall escreveu em seu Facebook logo após a última festa que demos em minha casa e na qual Nikelen Witter também estava presente: “Tudo perfeito! Assim a vida fica bem mais leve e melhor!”. É outro contexto, mas serve a frase, que agradeço.
Assim como o Ulisses de Joyce, a ação de Mrs. Dalloway transcorre num único dia. Entre a manhã e a madrugada seguinte, com as horas (aliás, o primeiro título do romance era As Horas) bem marcadas pelas badaladas do Big Ben. Lendo-se de um ponto de vista estritamente idiota, é a narrativa de um dia na vida da esposa de um membro da Câmara dos Comuns, sobrecarregada de coisas para fazer e preocupada com o que não fez por falta de coragem. Indo um pouco mais longe, é um livro sobre o efeito de nossas opções, o que não é pouca coisa.
A trama (trama?) de Virginia Woolf é ainda mais rarefeita do que a de James. Como veremos a seguir, VW é muitíssimo mais informativa, porém são fatos desconexos, jogados pela autora em aparente livre-associação formando um mosaico completo, repleto dos detalhes que são nossas vidas. Vejamos: enquanto Clarissa Dalloway dirige-se à florista Miss Pym, o leitor vai conhecendo a sua vida: o marido chatinho Richard, a filha Elizabeth; a religiosa Miss Kilman, espécie de preceptora que influencia a filha Elisabeth e de quem Clarissa não gostava e recebia retribuição. Pensa em seu amigo Peter Walsh, a quem preterira em casamento. Retornando à casa, Clarissa encontra o marido Richard, que lhe diz que foi convidado para ir almoçar na casa de Lady Bruton. Clarissa fica com ciúmes, mas há mais em que pensar, pois não disse que ela receberá a visita de seu primeiro amor, o citado Peter Walsh? O passado emerge, as cenas entre os dois e as lembranças de ambos são belíssimas e tristes. Durante o jantar, Richard diz a Walsh que se sente inseguro, que oferece com alguma frequência flores a Clarissa para poder dizer “eu te amo”, mas que a frase não sai, apenas as flores são entregues. Durante a festa, Peter conhece Sally Seton, uma velha amiga que depois de casada passou a ser conhecida como Lady Rosseter e deu luz a cinco filhos. Ela foi íntima de Clarissa, trocaram carícias, mas aconteceu com ela o mesmo que ocorreu com Walsh. Clarissa trocou-a por uma posição social. Simultaneamente, travamos conhecimento com Septimus Warren Smith, um herói da Primeira Guerra Mundial que tem alucinações, e com o sofrimento da sua esposa Lucrezia (Rezia).
Woolf utiliza uma técnica de fluxo de consciência conectando os pensamentos de seus personagens. O romance é uma narrativa contínua, sem grandes divisões ou seções. O Big Ben conta o tempo. Os pensamentos de personagens como Mrs. Dalloway e Septimus Warren Smith são conectados por eventos externos do mundo, como o som de um automóvel, ou a visão de um avião no céu.
O que há em comum entre as duas “heroinas”? Não gosto de ambas. Dalloway escolhe a segurança e o convencionalismo. A narradora de James é muito chata e doida varrida…Clarissa ama o sucesso, odeia o desconforto, e tem necessidade de ser amada. Ela é atraída para homens e mulheres. Teme que sua filha seja cooptada por Miss Kilman. Clarissa teve uma doença recente, e descansa por uma hora depois do almoço. Pensa na morte. Bem, agora temos anotações mesmo!
Agora, a contagem dos gols. Tudo pode mudar até a noite.
1. Linguagem, foco narrativo
Empate. Fico mais feliz com Woolf, mas acho que há que respeitar o sabor clássico de James. Cada um faz um gol.
2. Construção de conflitos e estrutura do romance
James constrói uma miríade de conflitos dentro de um guarda-chuva maior. Todos eles são cuidadosa ou nervosamente analisados e revisados em seus muitos detalhes. Na verdade, A volta do parafuso é uma longa construção de um conflito que não é solucionado até o final muito bem definido até o final e até mesmo depois dele. Gol de James.
3. Construção de personagens
Tenho que pensar.
4. Relevância sociológica.
O romance de Woolf é, não obstante sua aparente leveza, lotado de observações à terceira década de século XX: as sobras da Primeira Guerra Mundial que traumatiza, culpa e enlouquece Septimus Warren Smith. Rezia, sua mulher expatriada e semi rejeitada por ser uma estrangeira, sentindo-se duplamente impotente frente ao marido que sucumbe e ao qual ama. O caso de Clarissa e Peter Walsh e de Clarissa e Sally que não vão adiante pelo puro preconceito de classe de Clarissa. Gol de Woolf, fácil.
5. Relevância ontológica.
Aqui também Woolf faz gol. O fluxo de consciência é um ganho enorme e ele garante enorme vantagem sobre o discurso livre indireto de James. Além do mais, os personagens de James estão obcecados pelos fantasmas e os problemas dos garotos. Mesmo que James vire e revire as ideias da narradora, ela não é páreo para a montanha de elementos que é exposta por Woolf.