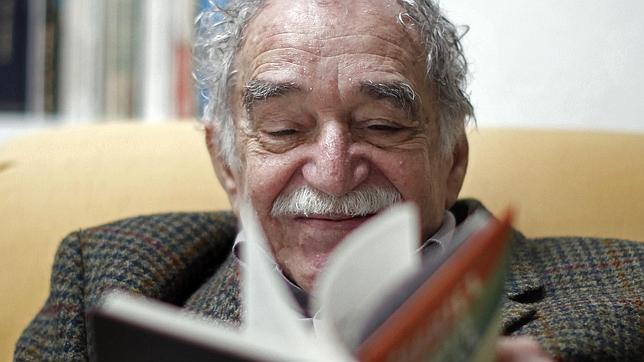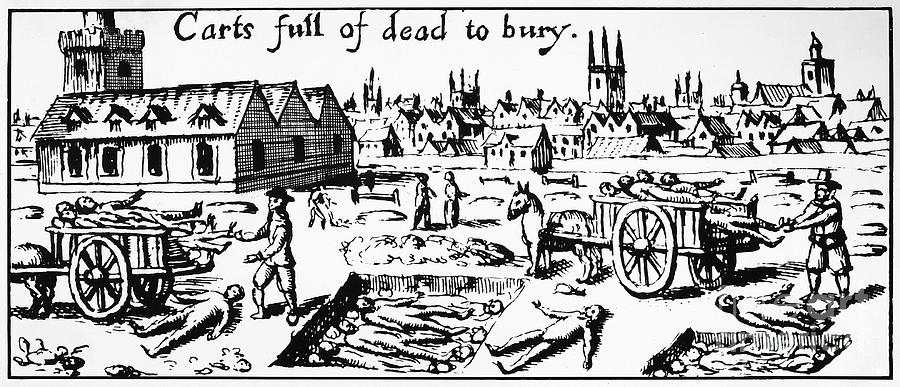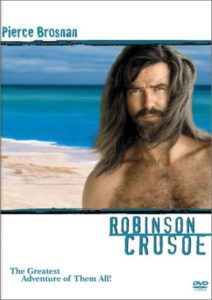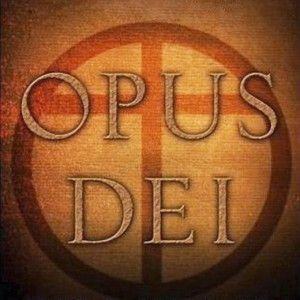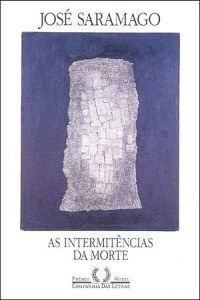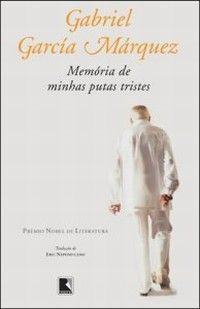Há algumas semanas, li a lista da extinta revista Bravo sobre os 100 livros essenciais da literatura mundial. A edição vendeu muito, disse o dono da banca de revistas meu vizinho. No final da revista, há uma página de Referências Bibliográficas de razoável tamanho, mas o editor esclarece que a maior influência veio dos trabalhos de Harold Bloom.
Há algumas semanas, li a lista da extinta revista Bravo sobre os 100 livros essenciais da literatura mundial. A edição vendeu muito, disse o dono da banca de revistas meu vizinho. No final da revista, há uma página de Referências Bibliográficas de razoável tamanho, mas o editor esclarece que a maior influência veio dos trabalhos de Harold Bloom.
Vamos à lista? Depois farei alguns comentários a ela.
A lista é a seguinte (talvez haja erros de digitação, talvez não):
1. Ilíada, Homero
2. Odisseia, Homero
3. Hamlet, William Shakespeare
4. Dom Quixote, Miguel de Cervantes
5. A Divina Comédia, Dante Alighieri
6. Em Busca do Tempo Perdido, Marcel Proust
7. Ulysses, James Joyce
8. Guerra e Paz, Leon Tolstói
9. Crime e Castigo, Dostoiévski
10. Ensaios, Michel de Montaigne
11. Édipo Rei, Sófocles
12. Otelo, William Shakespeare
13. Madame Bovary, Gustave Flaubert
14. Fausto, Goethe
15. O Processo, Franz Kafka
16. Doutor Fausto, Thomas Mann
17. As Flores do Mal, Charles Baldelaire
18. Som e a Fúria, William Faulkner
19. A Terra Desolada, T.S. Eliot
20. Teogonia, Hesíodo
21. As Metamorfoses, Ovídio
22. O Vermelho e o Negro, Stendhal
23. O Grande Gatsby, F. Scott Fitzgerald
24. Uma Estação No Inferno,Arthur Rimbaud
25. Os Miseráveis, Victor Hugo
26. O Estrangeiro, Albert Camus
27. Medéia, Eurípedes
28. A Eneida, Virgilio
29. Noite de Reis, William Shakespeare
30. Adeus às Armas, Ernest Hemingway
31. Coração das Trevas, Joseph Conrad
32. Admirável Mundo Novo, Aldous Huxley
33. Mrs. Dalloway, Virgínia Woolf
34. Moby Dick, Herman Melville
35. Histórias Extraordinárias, Edgar Allan Poe
36. A Comédia Humana, Balzac
37. Grandes Esperanças, Charles Dickens
38. O Homem sem Qualidades, Robert Musil
39. As Viagens de Gulliver, Jonathan Swift
40. Finnegans Wake, James Joyce
41. Os Lusíadas, Luís de Camões
42. Os Três Mosqueteiros, Alexandre Dumas
43. Retrato de uma Senhora, Henry James
44. Decameron, Boccaccio
45. Esperando Godot, Samuel Beckett
46. 1984, George Orwell
47. Galileu Galilei, Bertold Brecht
48. Os Cantos de Maldoror, Lautréamont
49. A Tarde de um Fauno, Mallarmé
50. Lolita, Vladimir Nabokov
51. Tartufo, Molière
52. As Três Irmãs, Anton Tchekov
53. O Livro das Mil e uma Noites
54. Don Juan, Tirso de Molina
55. Mensagem, Fernando Pessoa
56. Paraíso Perdido, John Milton
57. Robinson Crusoé, Daniel Defoe
58. Os Moedeiros Falsos, André Gide
59. Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis
60. Retrato de Dorian Gray, Oscar Wilde
61. Seis Personagens em Busca de um Autor, Luigi Pirandello
62. Alice no País das Maravilhas, Lewis Caroll
63. A Náusea, Jean-Paul Sartre
64. A Consciência de Zeno, Italo Svevo
65. A Longa Jornada Adentro, Eugene O’Neill
66. A Condição Humana, André Malraux
67. Os Cantos, Ezra Pound
68. Canções da Inocência/ Canções do Exílio, William Blake
69. Um Bonde Chamado Desejo, Teneessee Williams
70. Ficções, Jorge Luis Borges
71. O Rinoceronte, Eugène Ionesco
72. A Morte de Virgilio, Herman Broch
73. As Folhas da Relva, Walt Whitman
74. Deserto dos Tártaros, Dino Buzzati
75. Cem Anos de Solidão, Gabriel García Márquez
76. Viagem ao Fim da Noite, Louis-Ferdinand Céline
77. A Ilustre Casa de Ramires, Eça de Queirós
78. Jogo da Amarelinha, Julio Cortazar
79. As Vinhas da Ira, John Steinbeck
80. Memórias de Adriano, Marguerite Yourcenar
81. O Apanhador no Campo de Centeio, J.D. Salinger
82. Huckleberry Finn, Mark Twain
83. Contos de Hans Christian Andersen
84. O Leopardo, Tomaso di Lampedusa
85. Vida e Opiniões do Cavaleiro Tristram Shandy, Laurence Sterne
86. Passagem para a Índia, E.M. Forster
87. Orgulho e Preconceito, Jane Austen
88. Trópico de Câncer, Henry Miller
89. Pais e Filhos, Ivan Turgueniev
90. O Náufrago, Thomas Bernhard
91. A Epopéia de Gilgamesh
92. O Mahabharata
93. As Cidades Invisíveis, Italo Calvino
94. On the Road, Jack Kerouac
95. O Lobo da Estepe, Hermann Hesse
96. Complexo de Portnoy, Philip Roth
97. Reparação, Ian McEwan
98. Desonra, J.M. Coetzee
99. As Irmãs Makioka, Junichiro Tanizaki
100 Pedro Páramo, Juan Rulfo
A lista é ótima, mas há critérios bastante estranhos.
Se não me engano, só três semideuses têm mais de um livro na lista: Homero, Shakespeare e Joyce. OK, está justo.
No restante, é uma lista mais de autores do que de livros e muitas vezes são escolhidos os livros mais famosos do autor e dane-se a qualidade da obra. Se a revista faz um gol ao escolher Doutor Fausto como o melhor Thomas Mann, erra ao escolher Crime e Castigo dentro da obra de Dostoiévski – Os Irmãos Karamázovi e O Idiota são melhores; ao escolher Guerra e Paz de Tolstói – por que não Ana Karênina? -; na escolha de O Complexo de Portnoy, de Philip Roth; que tem cinco romances muito superiores, iniciando por O Avesso da Vida (Counterlife) e ainda ao eleger Retrato de Uma Senhora na obra luminosa de Henry James. Li por aí reclamações análogas sobre as escolhas de Brás Cubas e não de Dom Casmurro, de Cem Anos de Solidão ao invés de O Amor nos Tempos do Cólera e de As Cidades Invisíveis de Calvino, mas acho que é uma questão de gosto pessoal e não de mérito. Ah, e é absurda a presença do bom O Náufrago e não dos imensos e perfeitos Extinção, Árvores Abatidas e O Sobrinho de Wittgenstein na obra de Thomas Bernhard.
Saúdo a presença de grandes livros pouco citados como Tristram Shandy, obra-prima de Sterne muito querida deste que vos escreve, de Viagem ao Fim da Noite, de Céline, de A Consciência de Zeno, genial livro de Ítalo Svevo, de O Deserto dos Tártaros (Buzzati) e do incompreendido e brilhante Grandes Esperanças, de Charles Dickens, de longe seu melhor romance.
Porém é estranha a escolha de A Comédia Humana, de Balzac. Ora, a Comédia são 88 romances! Não vale! Estranho ainda mais a presença de autores menores como Kerouac e Malraux, além do romance que não é romance — ou do romance que só é romance em 100 de suas 1200 páginas: O Homem sem Qualidades, de Robert Musil.
Também acho que presença de McEwan e de Coetzee prescindem do julgamento do tempo, o que não é o caso de alguns ausentes, como Lazarillo de Tormes, de Chamisso com seu Peter Schlemihl, de George Eliot com Middlemarch, de Homo Faber de Max Frisch e de O Anão, de Pär Lagerkvist, só para citar os primeiros que me vêm à mente. E, se McEwan e Coetzee esttão presentes, por que não Roberto Bolaño?
E Oblómov??? Não poderia ficar de fora!
(O Bender escreve um comentário reclamando a ausência de Grande Sertão, Veredas, de Guimarães Rosa. É claro que ele tem razão! Esqueci. Coisas da idade.)
Com satisfação pessoal, digo que este não-especialista não leu apenas Os Miseráveis, o livro de Blake e os de Lautréamond, Mallarmé, Ovídio e Hesíodo. Isto é, seis dos cem. Tá bom.
P.S.- Milton mentiroso! Não li Finnegans também!
Este post foi publicado em 13 de dezembro de 2007, mas quase nada mudou.